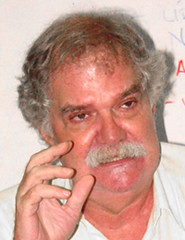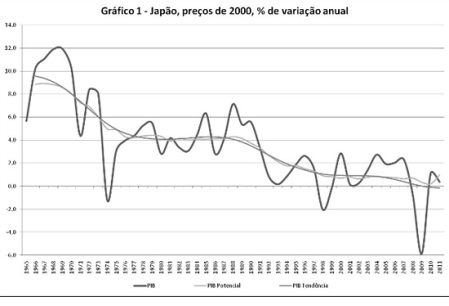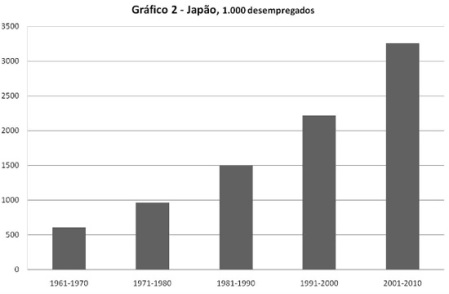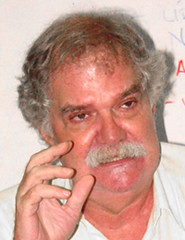
Carlos Nelson Coutinho
Carlos Nelson Coutinho, um dos intelectuais marxistas mais respeitados do Brasil, recebeu a Caros Amigos
em seu apartamento no bairro do Cosme Velho, Rio de Janeiro, para uma
conversa sobre os caminhos e descaminhos da esquerda brasileira, sua
decepção com o governo Lula e as possibilidades de superação do
capitalismo.
Estudioso de Antonio Gramsci, Coutinho defende a atualidade de Marx
e reafirma o que disse em seu polêmico artigo "Democracia como valor
universal", publicado há 30 anos: "Sem democracia não há socialismo, e
sem socialismo não há democracia"
Hamilton Octávio de Souza- Queremos saber da sua história. Onde nasceu, onde foi criado, como optou por esta carreira ..
Carlos Nelson Coutinho - Nasci na Bahia, em uma
cidade do interior chamada Itabuna, mas fui para Salvador muito
pequenininho, com uns 3 ou 4 anos. Me formei em Salvador, e as opções
que eu fiz, fiz em Salvador. Eu nasci em 1943, glorioso ano da batalha
de Stalingrado. Me formei em filosofia na Universidade Federal da
Bahia, um péssimo curso, e com meus 18 ou 19 anos sabia mais do que a
maioria dos professores. Meus pais eram baianos também. Meu pai era
advogado e foi deputado estadual durante três legislaturas da UDN.
Publicamente ele não era de esquerda, mas dentro de casa ele tinha uma
posição mais aberta. Eu me tomei comunista lendo o Manifesto Comunista
que o meu pai tinha na biblioteca. Ele era um homem culto, tinha livros
de poesia. Minha irmã, que é mais velha, disse que eu precisava ler o
Manifesto Comunista. Foi um deslumbramento. Eu devia ter uns 13 ou 14
anos. Aí fiz faculdade de Direito por dois anos porque era a faculdade
onde se fazia política, e eu estava interessado em fazer política. Me
dei conta que uma maneira boa de fazer política era me tomando
intelectual. Aos 17 anos entrei no Partido Comunista Brasileiro, que
naquela época tinha presença. O primeiro ano da faculdade foi até
interessante porque tinha teoria geral do Estado, economia política,
mas quando entrou o negócio de direito penal, direito civil, ai eu vi
que não era a minha e fui fazer filosofia.
Renato Pompeu - Mas quais eram as suas referências intelectuais?
Carlos Nelson Coutinho - Em primeiro lugar, Marx,
evidentemente, mas também foram muito fortes na minha formação
intelectual o filósofo húngaro George Lukács e Gramsci. Eu tenho a
vaidade de ter sido um dos primeiros a citar Gramsci no Brasil, porque
aos 18 anos eu publiquei um artigo sobre ele na revista da faculdade de
Direito. Aí eu vim para o Rio e fui trabalhar no Tribunal de Contas. Me
apresentei ao João Vieira Filho para trabalhar e ele me falou: "meu
filho, vá pra casa e o que você precisar de mim me telefone", Eu fiquei
dois ou três anos aqui sem trabalhar, mas a situação ficou inviável.
Pedi demissão e fui, durante Um bom tempo, tradutor. Eu ganhava a vida
como tradutor, traduzi cerca de 80 ou 90 livros. Em 76, eu fui para a
Europa. Passei 3 anos fora, não fui preso, mas senti que ia ser, foi
pouco depois da morte do Vlado. Então morei na Europa por três anos,
onde acho que aprendi muita política. Morei na Itália na época do
florescimento do eurocomunismo, que me marcou muito. O primeiro texto
que publiquei é exatamente este artigo da "Democracia como valor
universal" que causou, sem modéstia, um certo auê na esquerda
brasileira na época. Até hoje há citações de que é um texto reformista,
revisionista. Enfim, voltei do exílio e entrei na universidade, na
UFRJ, onde eu estou há quase 28 anos. Passei por três partidos
políticos na vida. Entrei no PCB, como disse antes, aos 17 anos, onde
fiquei até 1982, quando me dei conta que era uma forma política que
tinha se esgotado. Nesse momento, surge evidentemente uma coisa que o
PC não esperava e não queria, que é um partido realmente operário, no
sentido de ter uma base operária. O mal-estar do PCB contra o PT no
primeiro momento foi enorme. Eu saí do PCB, mas não entrei logo no PT.
Só entrei no PT no final da década de 80, entrei junto com o [Milton]
Temer e o Leandro Konder. Fizemos uma longa discussão para ver se
entrávamos ou não, e ficamos no PT até o governo Lula, quando nos demos
conta que o PT não era mais o PT. Saí e fui um dos fundadores do PSOL,
que ainda é um partido em formação. Ele surge num momento bem diferente
do momento de formação do PT, de ascensão do movimento social
articulado com a ascensão do movimento operário. E o PSOL surge
exatamente em um momento de refluxo. Nessa medida, ele é ainda um
partido pequeno, cheio de correntes. Eu sou independente, não tenho
corrente. Podemos dizer o seguinte: eu tinha um casamento monogâmico
com o PCB, com o PT já me permitia traições e no PSOL é uma amizade
colorida.
Tatiana Merlino - Em uma entrevista recente o
senhor falou sobre o avanço e o triunfo da pequena política sobre a
grande política dentro do governo lula. Você pode falar um pouco sobre
isso?
Carlos Nelson Coutinho - Gramsci faz uma distinção
entre o que chama de grande política e pequena política. A grande
política toma em questão as estruturas sociais, ou para modificá-las,
ou para conservá-las. A pequena política, para ele, Gramsci, é a
política da intriga, do corredor, a intriga parlamentar, não coloca em
discussão as grandes questões. Durante algum tempo, o Brasil passou por
uma fase de grande política. Se a gente lembrar, por exemplo, a
campanha presidencial de 89, sobretudo o segundo turno, tinha duas
alternativas claras de sociedade. Não sei se, caso o PT ganhasse, ia
cumpri-la, mas, do ponto de vista do discurso, tinha uma alternativa
democrático-popular e uma alternativa claramente neoliberal. Até certo
momento, no Brasil, nós tivemos uma disputa que Gramsci chamaria de
grande política. A partir, porém, sobretudo, da vitória eleitoral de
Lula, eu acho que a redução da arena política acaba na pequena
política, ou seja, que no fundo não põe em discussão nada estrutural.
Eu diria que é a política tipo americana. Obviamente o Obama não é o
Bush, mas ninguém tem ilusão de que o Obama vai mudar as estruturas
capitalistas dos Estados Unidos, ou propor uma alternativa global de
sociedade. Então, o que está acontecendo no Brasil é um pouco isso,
dando Dilma ou dando Serra não vai mudar muita coisa não. Até às vezes
desconfio que o Serra pode fazer uma política menos conservadora, mas
depois vão me acusar de ter aderido a ele. Eu até faço uma brincadeira,
dizendo que a política brasileira "americanalhou", virou essa coisa ...
Então, neste sentido eu entrei no PSOL até com essa ideia de criar uma
proposta realmente alternativa. Infelizmente o PSOL não tem força
suficiente para fazer essa proposta chegar ao grande público, mas é uma
tentativa modesta de ir contra a pequena política.
Renato Pompeu - Você não acha que esse americanalhamento aconteceu na própria pátria do Gramsci?
Carlos Nelson Coutinho - Ah, sem dúvida. A
predominância da pequena política é uma tendência mundial. Me lembro
que logo depois da abertura eu escrevi uns dois ou três artigos em que
dizia que o Brasil se tornou uma sociedade complexa. O Gramsci a
chamaria de ocidental, que é uma sociedade civil desenvolvida, forte e
tal. Mas há dois modelos de sociedade ocidental. Há um modelo que eu
chamava de americano, que é este onde há sindicalismo, mas o
sindicalismo não se opõe às estruturas, há um bipartidarismo, mas os
partidos são muito parecidos, e o que eu chamava de modelo europeu,
onde há disputa de hegemonia. Ou seja, se alguém votava no partido
comunista na Itália, sabia que estava votando em uma proposta de outra
ordem social. Se alguém votava no Labour Party na Inglaterra, durante
um bom tempo, pelo menos o programa deles era socialista, de
socialização dos meios de produção. E quem votava no partido
conservador queria conservar a ordem. O Brasil tinha como alternativa
escolher um ou outro modelo. Por exemplo, havia partidos que são do
tipo americano, como o PMDB, mas havia partidos que são do tipo
europeu, como o PT. Havia um sindicalismo de resultado e um
sindicalismo combativo (CUT, por exemplo), mas tudo isso era naquela
época. Depois a hegemonia neoliberal, em grande parte, americanalhou a
política mundial. A Europa hoje é exatamente isso, são partidos que
diferem muito pouco entre si. Há um "americanalhamento". É um fenômeno
universal e é uma prova da hegemonia forte do neoliberalismo.
Tatiana Merlino - Então o avanço da pequena sobre a grande política está sendo mundial?
Carlos Nelson Coutinho - É um fenômeno mundial, não
é um fenômeno brasileiro. Mas, veja só, começam a surgir na América
Latina formas que tentam romper com este modelo da pequena política.
Estou falando claramente de Chávez, Evo Morales e Rafael Correa, ainda
que eu não seja um chavista, até porque eu acho que o modelo que o
Chávez tenta aplicar na Venezuela não é válido para o Brasil, que é uma
sociedade mais complexa, mais articulada. Mas certamente é uma proposta
que rompe com a pequena política. Quando o Chávez fala em socialismo,
ele recoloca na ordem do dia, na agenda política, uma questão de
estrutura.
Tatiana Merlino - Então é um socialismo novo, do século 21. Que socialismo é esse?
Carlos Nelson Coutinho - Eu não sei, aí tem que
perguntar para o Chávez. Olha, eu não gosto dessa expressão "socialismo
do século 21", eu diria "socialismo no século 21".
Renato Pompeu - E como seria o socialismo no século 21?
Carlos Nelson Coutinho - Socialismo não é um ideal
ético ao qual tendemos para melhorar a ordem vigente. O socialismo é
uma proposta de um novo modo de produção, de uma nova forma de
sociabilidade, e nesse sentido eu acho que o socialismo é, mesmo no
século 21, uma proposta de superar o capitalismo. Novidades surgiram,
por exemplo: quem leu o Manifesto Comunista, como eu, vê que Marx e
Engels acertaram em cheio na caracterização do capitalismo. A ideia da
globalização capitalista está lá no Manifesto Comunista, o capitalismo
cria um mercado mundial, se expande e vive através de crises. Essa
ideia de que a crise é constitutiva do capitalismo está lá em Marx. Mas
há um ponto que nós precisamos rever em Marx, e rever certas
afirmações, que é o seguinte: Quem é o sujeito revolucionário? Nós
imaginamos construir uma nova ordem social. Naturalmente, para ser
construída, tem que ter um sujeito. Para Marx, era a classe operária
industrial fabril, e ele supunha, inclusive, que ela se tomaria maioria
da sociedade. Acho que isso não aconteceu. O assalariamento se
generalizou, hoje praticamente todas as profissões são submetidas à lei
do assalariamento, mas não se configurou a criação de uma classe
operária majoritária. Pelo contrário, a classe operária tem até
diminuído. Então, eu diria que este é um grande desafio dos socialistas
hoje. Hoje em dia tem aquele sujeito que trabalha no seu gabinete em
casa gerando mais-valia para alguma empresa, tem o operário que
continua na linha de montagem .. Será que esse cara que trabalha no
computador em casa se sente solidário com o operário que trabalha na
linha de montagem? Você vê que é um grande desafio. Como congregar
todos esses segmentos do mundo do trabalho permitindo que eles
construam uma consciência mais ou menos unificada de classe e,
portanto, se ponham como uma alternativa real à ordem do capital?
Renato Pompeu - Aí tem o problema dos excluídos ...
Carlos Nelson Coutinho - Eu tenho sempre dito que
as condições objetivas do socialismo nunca estiveram tão presentes.
Prestem atenção, o Marx, no livro 3 do "Capital", diz o seguinte: O
comunismo implica na ampliação do reino da liberdade e o reino da
liberdade é aquele que se situa para além da esfera do trabalho, é o
reino do trabalho necessário, é o reino onde os homens explicitarão
suas potencialidades, é o reino da práxis criadora. Até meio
romanticamente ele chega a dizer no livro "A Ideologia Alemã" que o
socialismo é o lugar onde o homem de manhã caça, de tarde pesca e de
noite faz critica literária, está liberto da escravidão da divisão do
trabalho. E ele diz que isso só pode ser obtido com a redução da
jornada de trabalho. O capitalismo desenvolveu suas forças produtivas a
tal ponto que isso se tornou uma possibilidade, a redução da jornada de
trabalho, o que eliminaria o problema do desemprego. O cara trabalharia
4 horas por dia, teria emprego pata todos os outros. E por que isso não
acontece? Porque as relações sociais de produção capitalista não estão
interessadas nisso, não estão interessadas em manter o trabalhador com
o mesmo salário e uma jornada de trabalho muito menor. Então, eu acho
que as condições para que a jornada de trabalho se reduza e, portanto,
se crie espaços de liberdade para a ação, para a práxis criadora dos
homens, são um fenômeno objetivo real hoje no capitalismo. Mas as
condições subjetivas são muito desfavoráveis. A morfologia do mundo do
trabalho se modificou muito .. Muita gente vive do trabalho com
condições muito diferenciadas, o que dificulta a percepção de que eles
são membros de uma mesma classe social. Então, esse é um desafio que o
socialismo no século 21 deve enfrentar. Um desafio também fundamental é
repensar a questão da democracia no socialismo. Eu diria que, em grande
parte, o mal chamado "socialismo real" fracassou porque não deu uma
resposta adequada à questão da democracia. Eu acho que socialismo não é
só socialização dos meios de produção - nos países do socialismo real,
na verdade, foi estatização - mas é também socialização do poder
político. E nós sabemos que o que aconteceu ali foi uma monopolização
do poder político, uma burocratização partidária que levou a um
ressecamento da democracia. A meu ver, aquilo foi uma transição
bloqueada. Eu acho que os países socialistas não realizaram o
comunismo, não realizaram sequer o socialismo e temos que repensar
também a relação entre socialismo e democracia. Meu texto, "Democracia
como valor universal", não é um abandono do socialismo. Era apenas uma
maneira de repensar o vinculo entre socialismo e democracia. Era um
artigo ao mesmo tempo contra a ditadura que ainda existia e contra uma
visão "marxista-leninista", o pseudônimo do stalinismo, que o partido
ainda tinha da democracia. Acho que este foi o limite central da
renovação do partido.
Marcelo Salles - E nesse "Democracia como valor
universal", você disse recentemente que defende uma coisa que não foi
muito bem entendida: socialismo como condição da plena realização da
democracia ...
Carlos Nelson Coutinho - Uma alteração que eu faria
no velho artigo era colocar não democracia como valor universal, mas
democratização como valor universal. Para mim a democracia é um
processo, ela não se identifica com as formas institucionais que ela
assume em determinados contextos históricos. A democratização é o
processo de crescente socialização da política com maior participação
na política, e, sobretudo, a socialização do poder político. Então, eu
acredito que a plena socialização do poder político, ou seja, da
democracia, só pode ocorrer no socialismo, porque numa sociedade
capitalista sempre há déficit de cidadania. Em uma sociedade de
classes, por mais que sejam universalizados os direitos, o exercício
deles é limitado pela condição classista das pessoas. Neste sentido,
para a plena realização da democracia, o autogoverno da sociedade só
pode ser realizado no socialismo. Então, eu diria que sem democracia
não há socialismo, e sem socialismo não há democracia. Acho que as duas
coisas devem ser sublinhadas com igual ênfase.
Hamilton Octávio de Souza - Nós saímos de um
período de 21 anos de ditadura militar, essa chamada democracia que nós
vivemos, qual é o limite? O que impende o avanço mesmo que não se
construa uma nova sociedade?
Carlos Nelson Coutinho - Eu acho que temos uma
tendência, que me parece equivocada, de tratar os 21 anos da ditadura
como se não houvesse diferenças de etapas. Eu acho, e quem viveu
lembra, que, de 64 ao AI-5, era ditadura, era indiscutível, mas ainda
havia uma série de possibilidades de luta. Do AI-5 até o final do
governo Geisel, foi um período abertamente ditatorial. No governo
Figueiredo, há um processo de abertura, um processo de democratização
que vai muito além do projeto de abertura da ditadura. Tem um momento
que os intelectuais mais orgânicos da ditadura, como o Golbery, por
exemplo, percebem que "ou abre ou pipoca". O projeto de abertura foi
então atravessado pelo que eu chamo de processo de abertura da
sociedade real. Eu não concordo com o Florestan Fernandes quando ele
chama a transição de conservadora. Eu acho que ocorreu ali a
interferência de dois processos: um pelo alto, porque é tradicional na
história brasileira as transformações serem feitas pelo alto, o que
resultou na eleição de Tancredo. Mas também houve a pressão de baixo. A
luta pelas "Diretas" foi uma coisa fundamental, também condicionou o
que veio depois. Esta contradição se expressa muito claramente na
Constituição de 88, que tem partes extremamente avançadas. Todo o
capítulo social é extremamente avançado, embora a ordem econômica tenha
sido mais ou menos mantida. Mas a Constituição é tanto uma contradição
que o que nós vimos foi a ação dos políticos neoliberais, dos governos
neoliberais de tentar mudá-la, de extirpar dela aquelas conquistas que
nós podemos chamar de democráticas. Eu acho que o Brasil hoje é uma
sociedade liberal-democrática no sentido de que tem instituições, voto,
partidos e tal. Mas, evidentemente, é uma democracia limitada,
sobretudo no sentido substantivo. A desigualdade permanece.
Hamilton Octávio de Souza - Mas hoje o que está mais estrangulado para o avanço na democracia ainda no marco de uma sociedade capitalista?
Carlos Nelson Coutinho - Eu acho que a ditadura
reprimiu a esquerda, nos torturou, assassinou muitos de nós, nos
obrigou ao exílio, mas não nos desmoralizou. Eu acho que a chegada do
Lula ao governo foi muito nociva para a esquerda. Ninguém esperava que
o governo Lula fosse empreender por decreto o socialismo, mas pelo
menos um reformismo forte, né? Eu acho que a decepção que isso
provocou, mais toda a história do mensalão e tal, é um dos fatores que
limitam o processo de aprofundamento da democracia no Brasil. Entre
outras coisas porque o governo Lula, que é um governo de centro,
cooptou os movimentos sociais. Temos a honrosa exceção do MST que não é
assim tão exceção porque eles são obrigados ... tem cesta básica nos
assentamentos e tal, eles são obrigados também a fazer algumas
concessões, mas a CUT ... Qual a diferença da CUT e da Força Sindical?
Eu acho que essa transformação da política brasileira em pequena
política, que se materializou com o governo Lula, que não é diferente
do governo Fernando Henrique, foi o fator que bloqueou o avanço
democrático. Até 2002, havia um acúmulo de forças da sociedade
brasileira que apontava para o aprofundamento da democratização, e O
sujeito deste processo era o PT, o movimento social. Na medida em que
isso se frustrou, eu acho que houve um bloqueio no avanço democrático
na época. O neoliberalismo enraizou-se muito mais fortemente na
Argentina do que no Brasil porque aqui havia uma resistência do PT e
dos movimentos sociais. Com a chegada ao governo, essa resistência
desapareceu. Então, de certo modo, é mais fácil a classe dominante hoje
fazer passar sua política em um governo petista do que em um governo
onde o PT era oposição.
Tatiana Merlino - Então a conjuntura seria um pouco menos adversa se estivesse o José Serra no poder e o PT como oposição?
Carlos Nelson Coutinho - Eu não gostaria de dizer
isso, mas eu acho que sim. Mas isso coloca uma questão: e se demorasse
mais quatro anos para o PT chegar ao governo, ia modificar
estruturalmente o que aconteceu com o PT? Até um certo momento, é clara
no partido uma concepção socialista da política. A partir de um certo
momento, porém, antes de Lula ir ao governo, o PT abandonou posturas
mais combativas. Ele fez isso para chegar ao governo. Mas se demorasse
mais quatro anos, ou oito anos, não aconteceria o mesmo? Não sei. Não
quero ser pessimista também, não era fatal o que aconteceu com o PT.
Renato Pompeu - Você é professor de qual disciplina?
Carlos Nelson Coutinho - De teoria política.
Renato Pompeu - Você é um cientista político ou um filósofo da política?
Carlos Nelson Coutinho - Não, não. Filósofo tudo
bem, mas cientista político não. Porque ciência política para mim;
aquela coisa que os americanos fazem, ou seja, pesquisa dc opinião,
sistema partidário, a ciência política é a teoria da pequena política.
Eu sou professor da Escola de Serviço Social.
Hamilton Octávio de Souza - Que projeto que você
identifica hoje no panorama brasileiro: a burguesia nacional tem um
projeto? As correntes de esquerda têm um projeto? Existe um projeto de
nação hoje?
Carlos Nelson Coutinho - Isso é um conceito
interessante, porque este é um conceito criado em grande parte pela
Internacional Comunista e pelo PCB, de que haveria uma burguesia
nacional oposta ao imperialismo. Eu me lembro quando eu entrei no
partido, eu era meio esquerdista e vivia perguntando ao
secretário-geral do partido na Bahia: Quem são os membros da burguesia
nacional? E um dia ele me respondeu: "José Ermírio de Moraes e Fernando
Gasparian". Olha, duas pessoas não fazem uma classe. Do ponto de vista
nosso, da esquerda, uma das razões da crise do socialismo, das
dificuldades que vive o socialismo hoje, é a falta de um projeto. A
social-democracia já abandonou o socialismo há muito tempo, e nos
partidos de esquerda antagonistas ao capitalismo há uma dificuldade de
formulação de um projeto exequível de socialismo. Na maioria dos casos,
esses partidos defendem a permanência do Estado do bem-estar social que
está sendo desconstruído pelo liberalismo. É uma estratégia
defensivista. Essa é outra condição subjetiva que falta, a formulação
clara de um projeto socialista. Do ponto de vista das classes
dominantes, eu acho que eles têm um projeto que estava claro até o
momento da crise do neoliberalismo. Foi o que marcou o governo Collor e
o governo Fernando Henrique e o que está marcando também o governo
Lula, com variações. Evidentemente, há diferenças, embora a meu ver,
não estruturais. Esse é o projeto da burguesia. Com a crise, eu acho
que algumas coisas foram alteradas, então, uma certa dose de
keynesianismo se tomou inevitável, mas sempre em favor do capital e
nunca em favor da classe trabalhadora. Tenho um amigo que diz. "Estado
mínimo para os trabalhadores e máximo para o capital". No fundo, é essa
a proposta do neoliberalismo: desconstrução de direitos, concessão
total de todas as relações sociais ao mercado, subordinação do público
ao privado, ao capital internacional. Não há burguesia
anti-imperialista no Brasil, definitivamente. Pode haver um burguês que
briga com o seu concorrente e o seu concorrente é um estrangeiro, mas
nem assim ele vai ser anti-imperialista.
Hamilton Octávio de Souza - Você vê alguma alteração a curto prazo?
Carlos Nelson Coutinho - O que poderia mudar isso
seria um fortalecimento dos movimentos sociais, da sociedade civil
organizada sob a hegemonia da esquerda. E pressionar para que reformas
fossem feitas e se retomasse uma política econômica mais voltada para
as classes populares, Tem um mote de Gramsci que eu acho muito válido,
que é: "pessimismo da inteligência e otimismo da vontade". A esquerda
não pode ser otimista numa análise do que está acontecendo no mundo
porque a esquerda tem perdido sucessivas batalhas. Então ser otimista
frente a um quadro desses é difícil. Quanto mais nós somos pessimistas,
mais otimismo da vontade temos de ter, mais a gente deve ter clareza
que só atuando, só dedicando todo o nosso empenho à mudança disso é que
essa coisa pode ser mudada. Então, a esperança de mudança seguramente
há, há potencialidades escondidas na atual sociedade que permitem ver e
pensar a superação do capitalismo. O capital não pode perdurar. A
alternativa ao socialismo, como dizia a Rosa Luxemburgo, é a barbárie.
Se o capitalismo continuar, teremos cada vez mais uma barbarização da
sociedade que nós já estamos assistindo,
Hamilton Octávio de Souza - Por conta do
neoliberalismo, tivemos um aumento do desemprego estrutural, a
informalidade do trabalho, o desrespeito à legislação trabalhista,
estamos numa condição de perdas de conquistas, direitos. Como é que se
explica a fraqueza do movimento social diante disso?
Carlos Nelson Coutinho - À certeza que nós temos de
que o capitalismo não vai resolver os problemas nem do mundo nem do
Brasil nos faz acreditar que, primeiro, a história não acabou, e,
portanto, ela está se movendo no sentido de contestar a independência
barbarizante do capital. Onde eu vejo focos, no Brasil de hoje, é no
MST. Uma coisa que funciona muito bem no MST é a preocupação deles com
a formação dos quadros. Eu fui de um partido, o PCB, que tinha curso,
mas as pessoas iam para Moscou, faziam a escola do partido. O PT nunca
se preocupou com formação de quadros, não; tinham escolas, e o MST tem.
Eu acho que o MST tem uma ambiguidade de fundo que é complicada. Ele é
um movimento social e, como todo movimento social, ele é
particularista, defende o interesse dos trabalhadores que querem terra.
Essa não pode ser uma demanda generalizada da sociedade. Eu não quero
um pequeno pedaço de terra, nem você. O partido político é quem
universaliza as demandas, formula uma proposta de sociedade que engloba
as demandas dos camponeses, proletários, das mulheres ... O MST tem uma
ambiguidade porque ele é um movimento que frequentemente atua como
partido. Eu acho que isso às vezes limita a ação do MST.
Marcelo Salles - O termo "Ditadura do Proletariado" que vez ou outra algum liberal usa...
Carlos Nelson Coutinho - Na época de Marx, ditadura
não tinha o sentido de despotismo que passou a ter depois. Ditadura é
um instituto do direito romano clássico que estabelecia que, quando
havia uma crise social, o Senado nomeava um ditador, que era um sujeito
que tinha poderes ilimitados durante um curto período de tempo.
Resolvida a crise social, voltava a forma não ditatorial de governo.
Então, quando o Marx fala isso, ele insiste muito que é um período
transitório: a ditadura vai levar ao comunismo, que para ele é uma
sociedade sem Estado. Ele se refere a um regime que tem parlamento, que
o parlamento é periodicamente reeleito, e que há a revogabilidade de
mandato. Então, essa expressão foi muito utilizada impropriamente tanto
por marxistas quanto por antimarxistas. Apesar de que em Lênin eu acho
que a ditadura do proletariado assume alguns traços meio preocupantes.
Em uma polêmica com o Kautsky, ele diz: ditadura é o regime acima de
qualquer lei. Lênin não era Stálin, mas uma afirmação desta abriu
caminho para que Stálin exercesse o poder autocrático, fora de qualquer
regra do jogo, acima da lei. Tinha lei, tinha uma Constituição que era
extremamente democrática, só que não valia nada.
Marcelo Salles - Estão sempre dizendo que não teria
liberdade de expressão no socialismo, porque o Estado seria muito
forte, e teria o partido único ...
Carlos Nelson Coutinho - Em primeiro lugar, não é
necessário que no socialismo haja partido único, e não é desejável, até
porque, poucas pessoas sabem, mas no início da revolução bolchevique o
primeiro governo era bipartidário. Era o partido bolchevique e o
partido social-revolucionário de esquerda. Depois, eles brigaram e
ficou um partido só. Mas não é necessário que haja monopartidarismo.
Segundo, Rosa Luxemburgo, marxista, comunista, que apoiou a revolução
bolchevique, dizia o seguinte: liberdade de pensamento é a liberdade de
quem pensa diferente de nós. Então, não há na tradição marxista a ideia
de que não haja liberdade de expressão, mas uma coisa é liberdade de
expressão e outra coisa é o monopólio da expressão. Liberdade de
expressão sim, contanto que não seja uma falsa liberdade de expressão.
Eu acho que o socialismo é condição de uma assertiva liberdade de
expressão.
Fonte: Caros Amigos de dezembro de 2009
|