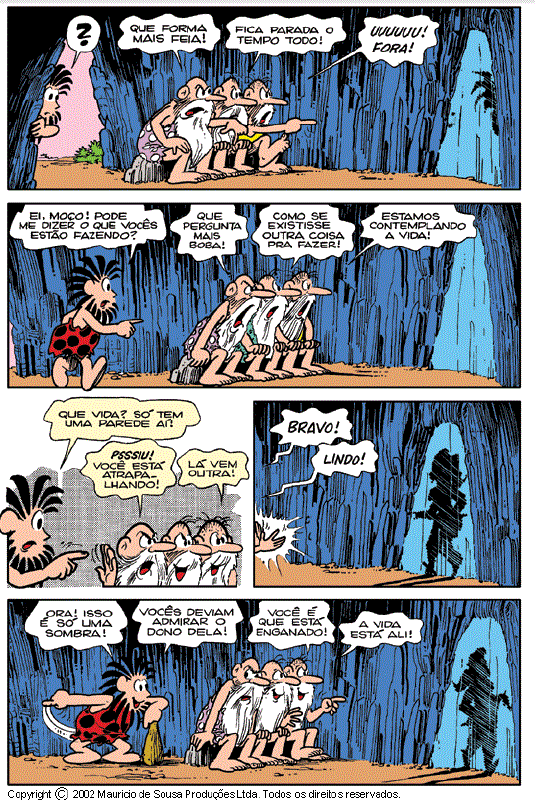A crise grega alcançou agora o ponto de situação pré-revolucionária. No domingo, vimos a maior manifestação da história da Grécia. Centenas de milhares de pessoas se reuniram para protestar contra o acordo reacionário diante do Parlamento em Atenas. Ali se encontrava o verdadeiro rosto do povo grego: trabalhadores e estudantes, aposentados e lojistas, jovens e velhos que vieram às ruas para expressar sua raiva.
Há muita emoção com relação ao alto preço que o país está sendo obrigado a pagar por seu segundo bail-out [operação de salvamento financeiro], uns 130 bilhões de euros de empréstimo da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional, destinados a evitar a ameaça de bancarrota e a saída do euro. No entanto, o suposto empréstimo e o pacote de austeridade incluíram mais 3,3 bilhões de euros em salários, pensões e aposentadorias e reduções de postos de trabalho somente para este ano, juntando à dor de quatro anos de recessão, salários mais baixos e maior desemprego.
A pressão sem misericórdia exercida pela União Europeia já reduziu os padrões de vida até os ossos, mergulhando o país em recessão profunda. O desemprego decolou para mais de um milhão. O indicador oficial de 21% subestima a extensão do problema. Ele não leva em consideração o grande número de trabalhadores gregos que estão teoricamente empregados, mas que não recebem o pagamento durante semanas ou mesmo meses.
Cortes nas pensões e aposentadorias no total de 300 bilhões de euros; redução de 22% no salário mínimo (32% para os que têm idade abaixo de 25 anos) e a extinção de 150 mil empregos no setor público até 2015 golpearão cada uma das famílias gregas. Os hospitais estão ficando sem remédios. Os salários e as pensões e aposentadorias foram esfacelados. O ânimo do povo está chegando ao desespero.
Naturalmente, as medidas de austeridade não afetam os ricos. Eles têm contas em paraísos fiscais e enviaram seu dinheiro para fora do país. Toda a carga dos aumentos de impostos cai sobre os ombros dos pobres, dos aposentados e pensionistas, dos trabalhadores e dos pequenos comerciantes. O povo grego está sendo desafiado com reduções ainda maiores nas pensões e aposentadorias, nos salários e com uma maior queda do nível de vida, e sua paciência se esgotou.
Os sacrifícios que envolvem os termos do mais recente pacote de austeridade enfureceram os sindicatos e os trabalhadores, enquanto que as exigências, feitas pelos alemães, de medidas ainda mais duras como condição para a Grécia continuar como membros da zona do euro, provocaram furor público. O sentimento incendiário da indignação finalmente transbordou no domingo, quando o mais recente e mais depravado pacote de austeridade foi colocado para aprovação do parlamento grego. O pacote foi aprovado em meio a uma das mais graves cenas de violência já vistas nas ruas de Atenas. Dezenas de milhares de pessoas sitiaram o Parlamento grego em manifestações militantes.
A repressão estatal
Os protestos de rua começaram em Atenas, mas imediatamente se espalharam a outras cidades gregas, incluindo Salonika, Patras, Rhodes, Corfu e Creta. Em Creta dez mil pessoas marcharam ao centro de Iraklion, onde ocuparam os estúdios de televisão, entoando palavras-de-ordem.
O governo e as forças do estado reagiram com violência sem precedentes atacando os manifestantes com cassetetes, granadas de efeito moral e gás lacrimogêneo asfixiante. Os manifestantes lutaram com bravura, arremessando as latas de gás lacrimogêneo de volta sobre a polícia e lançando pedras e improvisados coquetéis Molotov. Estes manifestantes não eram todos anarquistas, como a mídia asseverou. Muitos eram jovens enfurecidos com a conduta provocativa da polícia que lançou suas motos sobre a multidão.
O sentimento era de fúria. As manifestações e os protestos foram realizados em muitas cidades, acompanhados por ocupações de prefeituras e prédios dos governos regionais. A situação nas ruas era insurrecional. Na noite da segunda-feira, um dia depois das grandes demonstrações, o povo atacou os escritórios de um vice-ministro do PASOK em Patras, e um escritório de LAOS [o partido de direita], em Agrínio.
Os quatro mil homens da polícia antidistúrbios assaltaram os manifestantes em Atenas no domingo. No fim do dia, o centro estava como uma zona de guerra. As ruas estavam polvilhadas de vidro e de pedras. Cerca de 45 pessoas foram feridas e prédios do centro de Atenas, incluindo cafés e cinemas, foram incendiados por coquetéis Molotov lançados por manifestantes mascarados. Isto interessa ao governo, que está tentando justificar seu apoio ao plano de austeridade alegando que a alternativa é o "caos".
Lucas Papademos, o primeiro-ministro não eleito, falou ao Parlamento: "Vandalismo e destruição não têm lugar em uma democracia e não serão tolerados. Apelo ao povo para mostrar calma. Nestes tempos cruciais, nós não temos o poder de nos darmos ao luxo deste tipo de protesto. Penso que todos sabem o quanto a situação é séria".
Estas declarações cheiram à hipocrisia. É evidente por si próprio que a violência nas ruas foi deliberadamente provocada pelas forças repressivas do estado, precisamente com o objetivo de criar um clima de medo e instabilidade. O próprio governo é responsável por isto.
O ministro das Finanças, Evangelos Venizelos, lançou um desesperado pedido de apoio antes de votar à meia-noite: "Nós devemos mostrar que os gregos, quando são chamados a escolher entre o ruim e o pior, escolhem o ruim para evitar o pior".
Mas nenhuma das supostas soluções da burguesia pode deter a queda. A Grécia não pode pagar suas dívidas. Ela agora paga 33% de juros sobre os empréstimos externos. Isto significa que ela entrou em uma espiral declinante, um processo impossível de ser detido em que a causa se torna efeito e o efeito, causa: mais cortes significarão uma crise mais profunda, mais desemprego e mais baixo padrão de vida.
Isto, por sua vez, significará menos arrecadação de impostos e maior déficit público, que somente pode ser financiado com novos bail-outs [operações de salvamento financeiro], que conduzirão a novas exigências de cortes e assim por diante. É como cair em um Buraco Negro, do qual nada pode escapar – nem mesmo raios de luz.
Crise política
Em mensagem televisiva dirigida à nação no sábado à tarde, o primeiro-ministro Papademos explicou os custos da rejeição do pacote. Ele disse que isto "colocaria o país em uma aventura desastrosa" e que "criaria condições de caos econômico incontrolável e explosão social".
Ele acrescentou: "O país seria aspirado no turbilhão da recessão, da instabilidade, do desemprego e da prolongada miséria e isto, mais cedo ou mais tarde, levaria o país a sair do euro".
Tudo isto é provavelmente verdade, mas não ajuda em nada para persuadir o povo grego a cortar ele mesmo a própria garganta, para que outros não necessitem levar a cabo esta dolorosa operação.
Há oposição em massa ao plano de austeridade. De acordo com as pesquisas de opinião, 90% do povo se opõem a ele. A despeito disto, o gabinete grego aprovou o pacote na sexta-feira, mas somente depois que seis de seus membros tinham renunciado.
LAOS, o pequeno partido nacionalista de direita, encabeçado por Giorgios Karatzaferis, retirou apoio, mas com os dois principais partidos continuando a defender as medidas draconianas, o primeiro-ministro Lucas Papademos estava antecipando a vitória da aprovação parlamentar.
Pelo que se revelou, cada um dos partidos da coalizão se dividiu e está em crise. Vinte e dois parlamentares foram expulsos do PASOK por votarem contra o plano, e mais nove, que se abstiveram, foram punidos. Vinte e um parlamentares foram expulsos do conservador Partido da Nova Democracia. O segundo maior grupo no parlamento é agora o grupo "independente" dos 64 parlamentares expulsos.
O que tudo isto revela? Somente isto: este desacreditado parlamento não representa o povo. As pesquisas mostram quedas radicais no apoio tanto ao PASOK quanto à Nova Democracia. O apoio ao PASOK mesmo antes da votação de domingo era de somente 8-9%. Agora terá de cair ainda mais.
Nada foi resolvido por esta votação. O governo ainda tem que atender aos duros termos e condições relativas ao empréstimo e tem um prazo até a próxima sexta-feira para entrar em acordo com os donos de títulos e reembolsar consideráveis 14,4 bilhões de euros de obrigações até a data limite de 20 de março.
Todos os comentaristas sérios agora assumem que no final a Grécia será forçada a deixar a zona do euro e, provavelmente, a União Europeia. Planos de contingência para um retorno ao dracma já foram redigidos em Atenas, Berlim e Bruxelas. É somente questão de tempo.
Os indicadores revisados para 2011 mostram que a economia se contraiu em 6,8%, mais do que antes se pensava, sendo que este número foi de 7% no último trimestre de 2011 em termos anualizados.
Mesmo se todas as disposições do último plano de austeridade fossem implementadas, elas não resolveriam o problema do déficit. As estimativas originais eram de que estas medidas reduziriam o déficit de 160% do PIB (o nível atual) para (ainda muito altos) 120%. Mas as últimas estimativas indicam que, mesmo se o plano fosse realizado (o que é improvável), o déficit ainda se manteria em 136% em 2020.
A despeito disto, os comissários da União Europeia, liderados por Angela Merkel, permanecem implacáveis. Mesmo os profundos cortes acordados com o governo em Atenas não os satisfazem. O ministro alemão das finanças, Wolfgang Schaeuble, declarou numa entrevista ao jornal Welt am Sonntag: "As promessas dos gregos não são mais suficientes para nós".
E acrescentou: "A Grécia necessita fazer seu dever de casa para se tornar competitiva, seja em conjunção a um novo programa de resgate seja por outro caminho que nós realmente não queremos tomar".
Os líderes da Alemanha não aceitam as medidas mais recentes como uma boa moeda. Eles querem um acordo assinado pelos partidos do governo de que estas medidas serão executadas independentemente dos resultados das eleições que estão sendo convocadas para abril. Eles também querem caucionar o dinheiro que seria posto em um fundo especial fora do controle da Grécia, de modo que os credores sejam reembolsados primeiro e somente se sobrar dinheiro os gastos governamentais poderiam ser feitos.
Eles também exigem que os gregos devam chegar a mais 325 milhões de euros no valor dos cortes. Berlim também exige maiores esclarecimentos sobre como a Grécia irá reduzir seus custos laborais em 15%. Em outras palavras, eles querem tirar sangue de uma pedra.
Esta amigável intervenção alemã não ajudou em nada Mr. Papademos, cujo governo está agora como um barco naufragando sobre as rochas no mar alto. A infame Troika queria a continuação de seu governo até o final do ano. Em vez disso, já se encontra em processo de decomposição.
Da mesma forma que os demais planos dos dirigentes da EU, a coligação de "unidade nacional" está a se desfazer rapidamente. Os burgueses já não controlam mais os acontecimentos. Pelo contrário, são os acontecimentos que os controlam.
Novas eleições serão convocadas para abril. Não sabemos quem vencerá, mas podemos dizer quem perderá. Há um sentimento de ira dirigido contra todos os partidos da atual coalizão. Todos os partidos estão em crise. As eleições, na melhor das hipóteses, produzirão ainda fracos governos pró-austeridade, provavelmente encabeçados pelo conservador partido da Nova Democracia. Isto não resolverá nada e levará a mais revoltas. Coalizões instáveis cairão uma após outra.
Uma situação pré-revolucionária
Lênin assinalou há muito tempo que existem quatro condições para uma situação revolucionária: 1) a classe dominante deve estar dividida e em crise; 2) a classe média deve estar vacilando entre a burguesia e a classe trabalhadora; 3) as massas devem estar preparadas para lutar e fazer os maiores sacrifícios para tomar o poder; e 4) um partido e uma liderança revolucionários dispostos a levar a classe trabalhadora à conquista do poder.
Na Grécia no presente momento todos estes fatores existem exceto o último. A classe dominante grega está em crise. Ela não tem nenhuma solução ao presente impasse. Seus líderes são um quadro de impotência e indecisão. Eles estão sendo espremidos entre duas gigantescas pedras de moinho: de um lado, a impiedosa pressão do Capital internacional; de outro, a feroz resistência das massas.
A crise da classe dominante reflete-se nas crises e divisões em cada um dos partidos governamentais. Já quarenta parlamentares foram expulsos por não votarem pelo plano de austeridade. Mas medidas disciplinares de nada servirão. É como ocultar as fendas em uma parede causadas por um movimento sísmico massivo das placas tectônicas. O presente governo carece de toda legitimidade aos olhos das massas. Ele é um governo dos bancos que não foi eleito por ninguém.
O ódio aos banqueiros e aos ricos em geral é universal. O sentimento geral de revolta se espalhou à classe média que vê seus padrões de vida vir a baixo: os pequenos negociantes, que foram empurrados à bancarrota; os funcionários públicos, que perderam seus empregos; os motoristas de táxi, que enfrentam a ruína. Não é verdade que a classe média esteja vacilando entre a burguesia e o proletariado. A classe média grega está sendo forçada pela dura realidade a tomar o caminho da revolução.
E a classe trabalhadora? Nos últimos dois anos, o proletariado da Grécia revelou enorme militância e determinação. Houve 17 greves gerais e numerosas manifestações e protestos de massa de todos os tipos. Cabe a pergunta: o que mais podemos exigir da classe trabalhadora? O que mais podemos esperar?
É certo que a greve geral de 48 horas convocada pelas lideranças sindicais na última semana não foi um grande êxito. Indica isto que o sentimento da classe trabalhadora está esfriando? Significa isto que as massas estão se reconciliando com o inevitável, e que a burguesia teve êxito em restabelecer o equilíbrio necessário? Pelo contrário, o velho equilíbrio social e político foi completamente destruído na Grécia. E não será restaurado nem fácil nem rapidamente.
Como se explica a reduzida resposta ao chamado de uma greve geral de 48 horas? A resposta é bem simples: os trabalhadores gregos entenderam que greves de um ou de dois dias nada resolvem. Existem determinadas situações em que as greves e demonstrações de massa podem forçar um governo a mudar sua política. Mas a situação atual não é uma dessas situações.
A crise é demasiado profunda para permitir à burguesia alguma margem de manobra. Ela não abandonará o curso da ação que, de alguma forma, lhe está sendo ditado por Berlim e Bruxelas.
Os líderes sindicais na Grécia – como todos nos demais países – não entendem a seriedade da situação. Embora se considerem realistas supremos, são, na realidade, os mais cegos dos cegos.
Vivem do passado que já se dissipou nas névoas da história.
Os líderes sindicais imaginavam que, com um pequeno espetáculo de oposição, poderiam persuadir a burguesia a estabelecer alguns compromissos com eles. "Afinal, somos moderados, e não revolucionários". Mas, em vez de compromissos, todos eles receberam um chute no meio dos dentes.
A verdade é que os líderes sindicais usaram a tática de um dia de greve geral como meio conveniente de permitir que as massas dissipassem vapor. Um dia de greve geral é apenas uma demonstração. Pode ser usada para mobilizar a classe e até mesmo para atrair as camadas mais atrasadas e inertes. Nas ruas, os trabalhadores sentem seu poder coletivo e sua confiança aumenta.
Este é o lado positivo de um dia de greve geral. Mas, se a mesma coisa se repete indefinidamente, sem mostrar resultados concretos, os trabalhadores se cansarão dela. Eles podem ver que todas estas greves os fizeram perder dinheiro, mas também podem ver que não tiveram êxito em seus objetivos.
Concluem que alguma forma mais poderosa de ação é necessária. Mas, que espécie de ação é esta?
Aqui, a questão da liderança adquire importância decisiva. Os métodos puramente sindicais não podem resolver o problema, porque a natureza do problema não é sindical, e sim política. É uma questão de classe contra classe, de trabalhadores contra patrões, de ricos contra pobres: em última análise, é uma questão do poder estatal.
A tática de greves gerais de um ou dois dias está completamente desgastada. A única possibilidade agora é uma greve geral total para derrubar o governo. Mas uma greve geral total não é mais apenas uma demonstração. Ela coloca a questão fundamental: Quem é o amo da casa? Quem manda: vocês ou nós? Em outras palavras, ela coloca a questão do poder.
Esta é uma questão que nenhum dos atuais líderes da Esquerda está preparado para colocar. Eles temem explicar ao povo da Grécia o que o povo da Grécia necessita saber: que nenhuma solução para os problemas da Grécia é possível enquanto o poder estiver nas mãos de um bando de ricos parasitas: banqueiros, capitalistas, latifundiários e magnatas do comércio.
É impossível curar um câncer com uma aspirina. O que se necessita é de um genuíno governo de Esquerda – um governo dos trabalhadores que esteja preparado para expropriar os banqueiros e os grandes capitalistas gregos e estrangeiros, e que introduza uma economia nacionalizada e planificada, sob o controle e a administração democráticos da classe trabalhadora.
A fim de libertar a economia grega do estrangulamento do Capital externo, todas as dívidas devem ser repudiadas e deveria existir um monopólio estatal do comércio externo. Medidas revolucionárias drásticas deveriam ser tomadas contra os especuladores e as pessoas que enviam suas fortunas para o exterior.
Estas são as condições iniciais, sem as quais nenhuma solução é possível. Contudo, mesmo estes passos não serão suficientes. Sob as condições modernas, nenhum país pode se salvar sobre linhas puramente nacionais. O socialismo em um só país é uma utopia reacionária, como o revela a experiência da URSS e da China. Uma Grécia socialista lançaria um apelo aos trabalhadores da Europa para seguirem seu exemplo: desfazerem-se do jugo do Capital e se unirem em uma Federação Socialista Europeia, construída sobre os alicerces sólidos da igualdade e da solidariedade.
O único obstáculo entre a classe trabalhadora e o poder é a ausência de liderança. As pesquisas indicam que os partidos da Esquerda (Synaspismos, KKE e a Esquerda Democrática) têm mais de 40% de apoio. Isto revela que a classe trabalhadora está olhando para a Esquerda para que resolva seus problemas. Mas as táticas sectárias impedem-nos de se unir para a ação. O KKE se recusa a se engajar com outros partidos da Esquerda. Chegou a apelar por demonstrações separadas no domingo.
Este erro é fatal. A classe trabalhadora exige ações unitárias contra a classe capitalista, e uma política genuinamente socialista! O que se necessita é da aplicação de uma política leninista da Frente Única. Tal política e programa seriam suficientes para varrer os partidos burgueses à lata de lixo da história de onde vieram.
Deixem que a nossa bandeira seja a do socialismo e do internacionalismo proletário. Este é o único caminho à frente para os trabalhadores da Grécia, da Europa e de todo o mundo.
Traduzido por Fabiano Adalberto