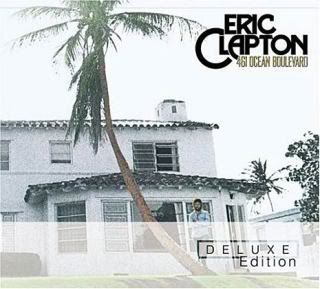Israel, o muro da vergonha
Ouve-se muito sobre a violência no conflito Israel-Palestina, mas
raramente se ouve contar a história da determinada e longa resistência
não-violenta, presente e muito importante, de muitas vilas palestinas,
contra o roubo de suas terras. O que aqui escrevo é meu depoimento
sobre o que vi numa dessas vilas na Cisjordânia.
Nunca, desde que começou a ocupação da Cisjordânia por Israel em
1967, o roubo de terras palestinas e o impedimento do acesso às fontes
de água pareceram mais chocantes do que depois de terras e água
passarem a serem usados exclusivamente para construir “o muro” –
construção iniciada em 2002. Enorme, complexo, de várias caras e
formatos, o muro é construção dramática, de quase oito metros de
altura, com torres de vigilância ocupadas por soldados, com cercas
eletrificadas instaladas na parte superior, e que se estende por
enormes distâncias.
Em 2004, a Corte Internacional de Justiça (ICJ) declarou “ilegal” o
muro; Israel ignorou completamente a sentença. Hoje, o muro ondula por
mais de 280 km na Cisjordânia, envolvendo todas as principais colônias
e várias colônias menores, todas exclusivas para judeus (e que são
colônias, não são ‘assentamentos’). Quando estiver todo construído, o
muro terá cercado 85% da população de colonos judeus da Cisjordânia –
processo de anexação de facto de fatias significativas de território
ocupado pela primeira vez em 1967. Aí está o sonho da “Grande Israel”
sionista, rapidamente convertido em arquitetura e pedra. Do ponto de
vista dos palestinos, o muro é como um monumento ao roubo de terras e
água.
Jayyous, com população de 3.500 habitantes, é uma das vilas
palestinas cujo acesso à água é impedido pelo muro israelense, inserida
no nordeste montanhoso da Cisjordânia, com a cidade palestina de
Qalqilya a oeste. O cenário é dos mais belos do Mediterrâneo, espécie
de mistura, digamos, da Toscana e de partes da Iugoslávia, com inúmeros
sítios arqueológicos e ruínas romanas. E é uma das regiões mais férteis
da Cisjordânia. Ali sempre cresceram nogueiras, laranjeiras, limoeiros
e oliveiras, além de hortaliças – sempre em torno de Jayyous e suas
muitas fontes de água subterrânea e poços. Os aqüíferos da região de
Jayyous e Qalqilya, de fato, são um dos principais tesouros da
Cisjordânia. As terras que pertencem à vila de Jayyous e à cidade de
Qalqilya são lindeiras da fronteira israelense de antes de 1967, a
chamada “Linha Verde ?.
Antes de haver o muro, os mercadores de Qalqilya mantinham comércio
regular com os israelenses dos dois lados da fronteira; e os
agricultores de Jayyous trabalhavam suas terras ao longo de toda a
Linha Verde. Hoje, o monstruoso muro de concreto cerca Qalqilya
completamente, fazendo lembrar os campos de prisioneiros e os ghettos
de outros tempos. Jayyous vive segregada de suas terras férteis pelo
muro, na modalidade que se pode classificar de “barreira” – um sistema
de cercas de ferro, arame farpado e patrulhas militares, usuárias
exclusivas das estradas exclusivas para judeus e controladas por
soldados israelenses.
4.000 pés de oliveiras e limoeiros foram arrancados, ali, para dar
lugar ao muro. Todos os poços da vila e 75% da terra estão hoje
confiscados por trás do muro, isolados no lado oeste – o lado
‘israelense’ – do muro. Uma pequena colônia exclusiva para judeus,
chamada Zufim, está instalada no coração do que, antes, foi a riqueza
dos habitantes de Jayyous. Israel tem planejada a construção de 1.500
novas moradias nessas terras confiscadas da vila. As novas unidades
destruirão a única estrada pela qual os agricultores de Jayyous ainda
podem entrar e sair de suas terras; antes, havia seis estradas. Israel
já bloqueou cinco. Os novos prédios bloquearão a última.
Sharif Omar Khalid, mais conhecido na região como Abu Azzam, 65
anos, lutou durante toda a vida para preservar as terras de Jayyous. Em
1980, com outros agricultores representantes de vilas na Cisjordânia,
fundou o Comitê de Defesa da Terra [ing. Land Defense Committee], uma
das 18 organizações que hoje conduzem a campanha “Parem o Muro” [ing.
Stop the Wall]. Dotado de inabalável otimismo, Khalid contabiliza como
vitória uma decisão da Suprema Corte israelense, de abril de 2006, que
obrigou os israelenses a deslocar o muro, afastando-o dos limites sul
da vila. A decisão devolveu aos proprietários palestinos 11% da terra
de Jayyous – 750 dunams [1 dunam = 1.000 m2] dos 8.600 que o muro
confiscou.
O muro lá permanece, e também permanece um dos componentes
essenciais do muro: a “passagem agrícola”. Há duas nas terras de
Jayyous – uma para o norte; outra para o sul. Praticamente todos os
agricultores da vila são obrigados a usar a passagem norte. Mantida
aberta por dois períodos de 45 minutos (um pela manhã, outro no final
da tarde), a passagem é, de fato, um bloqueio controlado por soldados
israelenses que leva a uma estrada também controlada por soldados
israelenses.
Mas para usar a passagem, transitar pela estrada controlada por
soldados e ir dali às suas terras, os agricultores de Jayyous tem de
exibir uma “autorização para ‘visitantes’”. Desde 2003, Israel decretou
que os agricultores são meros ‘visitantes’ nas terras nas quais vivem e
plantam há gerações. Obter essas autorizações é processo praticamente
sem fim, que começa pela comprovação da propriedade da terra. Abu Azzam
é um dos maiores proprietários de terra da vila; seu título de
propriedade é antigo, de várias gerações, do tempo em que a Jordânia
ocupou a Cisjordânia. Conhecido ativista contra o muro, várias vezes a
autorização de passagem lhe foi negada; até que a Suprema Corte de
Israel garantiu-lhe um passe permanente, no qual se registra que o
portador não representa “ameaça à segurança de Israel”. Mas o passe
‘perm anente’ tem criado problemas extra a Abu Azzam, na odisseia
diária para entrar e sair de suas terras.
O Portão do Inferno
Vi uma “passagem agrícola”, pela primeira vez, em 2004, nos limites
da vila de Mas’ha, no norte da Palestina. Terrível. Imensas garras de
aço, pintadas de amarelo-ocre, que rangiam ao abrir, por especial
obséquio das forças israelenses de ocupação; permaneciam abertas por
cerca de 30 minutos, de madrugada e no início da noite. Entre uma
abertura e outra, as garras permaneciam cerradas, e ninguém passava,
nem para um lado nem para o outro; quem estivesse fora de casa, lá
tinha de ficar por todo um dia ou uma noite; alguém que precisasse sair
de casa para atender a alguma emergência, lá era detido, por um dia ou
uma noite; e os campos ficavam sem irrigar (a irrigação é feita depois
do por do sol), se o agricultor não chegasse a tempo de encontrar
abertas aquelas garras rangentes.
Cada vez que o portão de Mas’ha era aberto, um agricultor solitário,
Hani Amer – cujas terras ficaram cercadas pelo muro por três lados –
conseguia visitar uma parte de seus campos. Dos dois lados do portão
havia rolos de arame farpado e um fosso, ambos paralelos, contínuos, a
perder de vista. Depois do fosso, mais arame farpado. E, depois, uma
“estrada militar”, exclusiva para veículos militares que patrulhavam as
fronteiras de um ‘mundo árabe’ do qual se supunha que viria o
apocalipse sobre a “Grande Israel”.
Depois da estrada militar, mais arame farpado e outro fosso, antes que Hani Amer pudesse, afinal, chegar aos seus campos.
Mas, para saber o que realmente significa a ‘passagem agrícola’, é
preciso passar pelo menos uma noite inteira, como eu passei, com um
agricultor de Jayyous, em tempos de colheita. Acordamos – ele, sua
esposa e eu – às 5h30 da manhã, tomamos um copo do forte café árabe,
comemos pão com geleia de frutas do pequeno pomar que restava junto à
casa, e saímos, montados no pequeno trator branco, enferrujado,
sacolejando pela estrada de pedras. Depois, claro, paramos numa longa
fila de outros agricultores, junto ao portão.
Vejam hoje, então, no nascer de mais um dia do 42º ano de ocupação
israelense, em frente àquele monstro de aço amarelo, como cenário de
filme de terror, que eles continuam a chegar, como sempre: um vem de
trator; outro, em lombo de burro, carregado de instrumentos de colheita
e sacos; vão chegando e a fila vai crescendo. Os rolos de arame farpado
lá estão, como sempre; e há os fossos e há a estrada militar, e, assim,
lá continuam os mesmos muros que aprisionam, há tanto tempo, o povo
palestino. Vejam os soldados que andam lentamente e destravam
lentamente os portões, acintosamente sem pressa; as garras se abrem e
imediatamente são substituídas por soldados pesadamente armados que
convertem a abertura em ponto inexpugnável de controle; e, mesmo isso,
só por alguns momentos, a cada manhã e a cada fim de ta rde.
Enquanto esperava, olhando em volta do trator de Abu Azzam, em
outubro passado, lembrei de como era a colina do outro lado da estrada,
há algumas décadas, quando eu trabalhava como correspondente na
Cisjordânia. Toda a região era percorrida pela linha branca das muretas
de pedra que demarcavam os terraços onde, há séculos, cresciam
oliveiras, cujas folhas soavam como sininhos ao vento, e a folhagem
verde-escura das vinhas e dos pomares. A expansão da ‘Grande Israel’ e
seu estilo Califórnia-de-ser-e-viver, eram então, no máximo, itens do
sonho sionista. Hoje, estão em toda a Cisjordânia, sonho nenhum, dura
realidade; claro que não havia muro, nem ‘estrada militar’ nem, é
claro, “passagem agrícola”.
Hoje, lá estão, os agricultores e seu burro, seu trator, seus
apetrechos de trabalho, e aproximam-se das garras amarelas do monstro.
E passam por elas. E um a um passam pelo arame farpado e pelo fosso e
entram na estrada militar; então param o trator ou o burro, desmontam e
apresentam documentos a um impassível soldado israelense. O soldado,
cuja retaguarda é protegida por outros dois soldados, vira-se e grita
para outro soldado invisível dentro de uma torre de controle, em
hebraico, todos os números e nomes que haja no documento que tem em
mãos. Pensem no que há de estoicismo e coragem naqueles agricultores
que aceitam o ritual que Israel impõe, porque sabem que, por hora, não
há alternativa. E não esqueçam de pensar que aqueles homens e mulheres
passam por tudo aquilo exclusivamente para poder fazer uma cois a:
colher suas olivas plantadas por eles em terra sua.
Antes disso, cada um tem de parar na estrada, cabeça baixa ou olhos
arregalados, à espera de que seu destino seja decidido, por aquele dia;
então, se a passagem é permitida, passa-se. E há mais arame farpado e
outro fosso, até que – finalmente – chega-se a alguma coisa que bem
poderia ser liberdade, mas não é. O agricultor pode, afinal, subir a
colina com seu trator ou seu burro. E pode então começar a trabalhar na
colheita das próprias olivas, nas próprias oliveiras, plantadas em sua
própria terra; para chegar até ali, muitas vezes, o agricultor
palestino já perdeu várias horas de trabalho. E esse tormento é diário.
Ao mesmo tempo, considere os colonos israelenses e os soldados
israelenses, cuja única regra, na obsessão de tudo controlar e de não
deixar passe livre a nenhum agricultor palestino, converte em pesadelo
a milenar faina de colher olivas. Colonos da colônia israelense de
Zufim já destruíam plantações de oliveiras em Jayyous em 2004. (Algumas
árvores foram queimadas; outras foram arrancadas para ser vendidas em
Israel; e o esgoto da colônia envenenou e matou outras inúmeras
oliveiras naquela área.)
Uma semana depois de minha visita, segundo o jornal Haaretz, colonos
judeus outra vez “entraram em confronto com palestinos que colhiam
olivas na Cisjordânia”. Os colonos judeus atacaram os agricultores
palestinos porque “os palestinos ali reunidos ameaçam a segurança da
colônia e as covas de onde oliveiras foram arrancadas podem servir de
esconderijo para terroristas.”
Em outro ponto da mesma região, as forças de segurança de Israel
acompanharam grupos de colonos judeus que invadiram uma vila palestina
para promover “pequena manifestação” contra a colheita das olivas. (O
exército de Israel é hoje dominado em todos os escalões, dos mais altos
aos mais baixos, por colonos expansionistas ultra-religiosos, para os
quais “todo colono é soldado e todo soldado é colono”.) E também há
notícias de que em outro ‘posto avançado’ (nome que Israel dá às
primeiras instalações de novas colônias), denominado Adi Ad, colonos
judeus fundamentalistas arrancaram “dúzias de oliveiras”. Agora,
enquanto escrevo, continuam a chegar mensagens e e-mail que testemunham
inúmeras outras ações semelhantes a essas.
Várias vezes, desde outubro, o exército de Israel impôs toques de
recolher na vila de Jayyous – punição coletiva por demonstrações
semanais contra o muro promovidas pelos moradores mais jovens da vila.
Na maior parte dos casos, o toque de recolher foi imposto depois de os
agricultores já estarem nos olivais e não chegou a impedir a colheita
diária. Mas os demais habitantes de Jayyous foram punidos. Punição
coletiva – represália contra todos, por ações de alguns – é considerada
crime de guerra, nos termos da Convenção de Genebra de 1949.
Não parar!
“Israel é um Estado que enlouqueceu”, observou Raja Shehadeh,
advogado e escritor palestino, quando, um dia depois de visitar
Jayyous, narrei-lhe a cena a que assistira na ‘passagem agrícola’.
Aquela específica barreira de aço e garras, aqueles específicos
agricultores, aqueles específicos soldados israelenses convertidos em
instrumentos vivos da banalização do mal – tudo isso faz pensar em
alguma específica modalidade de loucura tão simplória quanto brutal, de
que ainda se alimenta a “Grande Israel”. Documentarista holandesa que
entrevistou alguns colonos judeus na Cisjordânia relata um eloquente
fragmento de diálogo: “Qual é seu sonho?” – perguntou ela a um dos
colonos judeus. “Meu sonho”, respondeu ele, “é que meus netos digam,
algum dia, olhando essa terra: aqui, antigamente, viveram árabes.”
Na véspera da manhã em que todos saímos em direção ao muro e à
passagem, Abu Azzam levou um visitante alemão para conhecer a prensa
local na qual diariamente ele e outros agricultores descarregam a
colheita diária de olivas. A visão das olivas de Jayyous andando por
uma esteira em direção à prensa, para emergir numa torrente de
garrafões de plástico cheios de azeite foi visão de alegria e sucesso.
Crianças corriam e riam pelo pátio de piso escorregadio, comendo
pedacinhos de pão molhados no azeite dourado, recém-prensado. Que tipo
de loucura humana pensaria em infligir tormento eterno àquele tipo de
comunidade tradicional de trabalho pacífico?
Depois, Abu Azzam contou-me sobre seus anos de ativista político, o
casamento, os filhos. Preso pelos jordanianos por pertencer ao Partido
Comunista, e depois por Israel por sua luta para defender os olivais de
sua vila, diz que sua ideia fixa é prosseguir. “A verdade é que não
temos escolha” – diz ele, com um sorriso e um dar de ombros.
Lembra de quando, em outubro de 2003, o muro ainda em construção,
funcionários israelenses tentaram subornar os ativistas de Jayyous,
oferecendo-lhes 650 autorizações que dariam passe livre a vários
agricultores para chegar às suas terras. Mas o “Comitê de Defesa da
Terra” decidiu “em decisão conjunta” não usar os passes. Aceitá-los
seria reconhecer o muro e todo o sistema de sequestro e roubo de
propriedade que o muro implica. Os soldados israelenses, então,
mantiveram fechado o portão; isso, no auge da colheita de olivas,
goiabas e mexericas. Abu Azzam e outros agricultores palestinos abriram
brechas nas cercas e conseguiram chegar aos pomares, mas “sem um
trator, sem uma mula, sem carrinhos, sem tudo. Só nossos braços e
pernas e cabeças.”
Em seguida, mais prisões. Os agricultores decidiram acampar nos
pomares e não voltar às casas na vila. “Minha mulher ficou furiosa” –
lembra Abu Azzam. “Telefonou-me, dia 21 de outubro, perguntando
“Estamos divorciados? Você abandonou a família?” e eu respondi “Estou
resistindo”. E ela: “Resistindo? Enquanto as goiabas, os pepinos, os
tomates apodrecem no pé?” Respondi: “Estamos na nossa terra. Só isso já
é resistência.”
Desde 2003 Abu Azzam e outro agricultores de Jayyous continuam
obcecadamente a resistir em suas terras. A determinação de continuar o
cultivo dos 3.250 dunams que restam, dos 8.050 dunams de antes de
Israel roubar-lhes a terra, de não afastar-se dali, é, só ela, ato de
resistência. Na Palestina, chamam-se “samid” esses que tomaram a
decisão de “apenas ficar”. A palavra significa “perseverante” e,
também, ‘cabeça-dura’ e “obcecado” – e é tradução eloquente da antiga
modalidade de resistência palestina não-violenta.
“Vocês têm tantos problemas”, disse a Abu Azzam. “Não pensam em
partir?” Ele sorriu como se tivesse pena de mim. “Toda a nossa vida é
um problema. Não quero viver como refugiado. E sou contra a emigração
promovida à moda dos israelenses.”
Desde 2008, os mais jovens em Jayyous têm feito manifestações junto
ao muro. Um dos líderes – Mohammed Othman – foi preso pelos israelenses
no outono passado, quando desembarcou de volta de uma viagem à Noruega
onde fez várias palestras. Continua preso, sem qualquer acusação formal
e sem saber quando será solto.
Os líderes dos movimentos de jovens de Jayyous também enviaram
cartas a altos funcionários dos governos da Noruega e de Dubai, pedindo
que as empresas desses países deixem de investir nas empresas de
propriedade do bilionário descendentes de emigrantes do Uzbequistão e
nascido em Israel Lev Leviev. Com isso, Jayyous une-se a ampla campanha
internacional contra empresas que negociem com as companhias de Leviev.
É enorme conglomerado, muito diversificado, que inclui minas de
diamantes em Angola, propriedades imobiliárias em Nova York e empresas
construtoras que constroem colônias nos Territórios Palestinos Ocupados
(inclusive em Zufim). Em março passado, Barak Ravid, repórter do jornal
israelense Haaretz, noticiou que a embaixada britânica em Telavive
“suspendera negociações para alugar um andar na Torre Kyria,
empreendimento imobiliário africano-israelense, porque havia
informações seguras de que a empresa construtora [de Leviev] estava
envolvida na construção de colônias exclusivas para judeus.” Também a
Oxfam rompeu inúmeros contratos, sempre pela mesma razão.
Dia 9/9/2009, um mês antes de minha chegada, a Suprema Corte
Israelense outra vez aprovara pedido para alterar o traçado do muro,
com a correspondente devolução de mais 2.448 dunams aos proprietários
originais, de Jayyous. “Resultado de sua luta?” – perguntei a Azzam.
“Resultado da luta de Jayyous,” ele respondeu. “Somos um grupo da
resistência palestina.”
Para ver o muro, invisível na mídia ocidental, clique aqui.