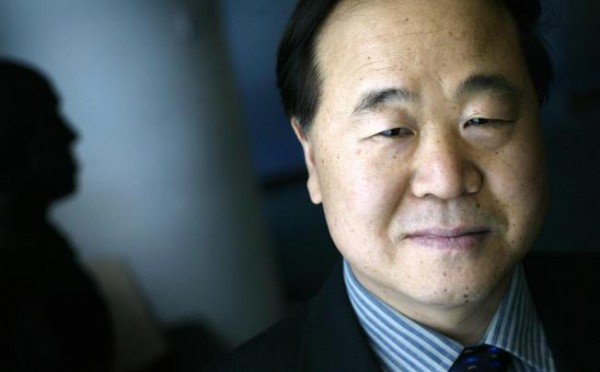Eleanor Roosevelt (1884-1962) foi uma primeira-dama e tanto. Durante o
mandato do marido Franklin (1882-1945) era tão independente que se
sentia à vontade para emitir opiniões contrárias às do presidente, e as
publicava em jornais e revistas. Mulher à frente de seu tempo –há
evidências inclusive de que era homossexual–, Eleanor se tornaria ao
longo dos anos, mesmo após enviuvar, uma figura de referência na
América. De 1936 até sua morte assinou uma coluna reproduzida em
diversos jornais americanos. Definitivamente, não era para decoração.
Em junho de 1957, Eleanor denunciou que a Secretaria de Estado
norte-americana lhe havia negado a autorização para viajar à China e
entrevistar alguns líderes comunistas. Mas em outubro ela conseguiria ir
à União Soviética, onde obteve um furo de reportagem: entrevistou
durante três horas o líder do Partido Comunista, Nikita Kruschev
(1894-1971), para o extinto jornal New York World-Telegram. A globetrotter
Eleanor estava para completar 73 anos. Kruschev, o homem que sucedeu
Stalin, era dez anos mais novo e estava de férias em Ialta, no mar
Negro, quando concordou em falar.
A conversa entre o líder soviético e a ex-primeira-dama é fascinante e
elucidativa. Primeiro por expor, sem disfarces, o comportamento
norte-americano em relação ao comunismo, seu pânico quase infantil de
que ele pudesse se espalhar pelo mundo. E também por mostrar a gênese
dos conflitos que duram até hoje no Oriente Médio. Quem armou qual país?
Eis aí onde tudo começou. Vejam os conflitos na Síria atualmente: quem
são os maiores envolvidos na suposta tentativa de promover a paz?
Estados Unidos e Rússia. Nada é por acaso.
Eleanor tenta colocar Nikita contra a parede, mas Kruschev faz o
mesmo. Por vezes é ela quem se esquiva da pergunta, por vezes é ele quem
foge. Ninguém se dobra, exatamente como seus países, em plena Guerra
Fria. Dois anos mais tarde, Nikita Kruschev visitaria os Estados Unidos e
seria sua vez de ser recebido por Eleanor Roosevelt. Ficaram amigos?
Nem tanto, mas souberam se sentar para conversar, embora discordassem
nos mínimos aspectos. Em um artigo, Eleanor contou ter achado o líder
soviético “extremamente articulado” e, como pessoa, “alguém difícil de
não se gostar”. Ao final, tomaram café e comeram frutas, doces e bolos
oferecidos pela mulher de Kruschev, Nina.
Com todos os problemas da União Soviética, a entrevista deixa patente
a falta que faz um líder de superpotência capaz de questionar de igual
para igual o poderio norte-americano. Quem desempenha papel semelhante
hoje no mundo é Hugo Chávez e seus colegas bolivarianos na América do
Sul, mas os países que governam não têm o peso que a União Soviética
tinha. Kruschev, porém, errou em sua previsão de que era o destino
histórico do comunismo se espalhar pelo mundo…
A entrevista foi publicada em quatro artigos. No último deles, também
muito interessante, Eleanor aborda especificamente a questão dos judeus
soviéticos. Há estudiosos que apontam uma ascendência judaica nos
Roosevelt, que eram primos.
***
3 October 1957
NEW YORK—A melhor maneira de começar esta série de artigos sobre a
União Soviética é deixando Nikita S. Kruschev, líder do Partido
Comunista, falar por si próprio. Pediram para submeter minhas questões
antes da entrevista, mas o sr. Kruschev não as tinha diante de si quando
apareci. E ele respondeu todas as perguntas, apesar de estar falando de
forma completamente espontânea.
O primeiro artigo irá abordar somente uma parte das respostas
gravadas e, como eu as tenho em russo, só posso dar a vocês a tradução
como a recebi de minha intérprete, a sra. Anna Larova, que me contou que
tinha traduzido para o meu marido em Ialta.
Abri a entrevista pedindo a ela para dizer ao sr. Kruschev o quanto
eu tinha apreciado que tivesse reservado tempo para me ver durante suas
férias, e acrescentei que gostei e achei muito interessante minha viagem
por seu país. O sr. Kruschev respondeu: “Políticos nunca deixam
obrigações políticas de lado”.
Aqui estão minhas perguntas e suas respostas:
ROOSEVELT: Vim à URSS como enviada dos jornais onde escrevo e para
juntar toda a informação que possa para as palestras que darei no
próximo ano, mas espero que, estando aqui, possa obter um maior
entendimento e clareza a respeito de algumas questões que algumas
pessoas em meu país não podem entender sobre o que ouvem da URSS.
KRUSCHEV: Aprecio sua vinda e quero falar sobre o presidente
Roosevelt. Nós o respeitamos e recordamos suas atividades, porque ele
foi o primeiro presidente a estabelecer relações diplomáticas entre os
EUA e a URSS. O presidente Roosevelt compreendeu perfeitamente bem a
necessidade de haver relações entre nossos países.
Ele foi um grande homem, um homem capaz, que entendeu os interesses
de seu próprio país e da União Soviética. Nós tínhamos uma causa comum
contra Hitler e nós gostamos muito que Franklin Roosevelt entendesse
este desafio, um desafio comum aos dois países. Estou muito feliz por
receber a senhora em nossa terra e por ter essa conversa.
ROOSEVELT: Sr. Kruschev, posso fazer as questões que lhe submeti?
Então, se o senhor tiver alguma pergunta, faça-a, eu ficarei feliz de
respondê-las. E talvez possamos ter depois uma conversa informal, não
para citação direta.
KRUSCHEV: Sim, sra. Roosevelt, claro.
ROOSEVELT: Em casa as pessoas diriam “como a União Soviética espera
que nós nos desarmemos sem inspeção quando ela nos forçou a refazer
nosso exército depois da Segunda Guerra Mundial? Reduzimos nosso
exército de 12 milhões para 1 milhão de homens”. Esta poderia ser uma
das primeiras questões, senhor.
KRUSCHEV: Acho, sra. Roosevelt, que temos diferentes pontos de vista
sobre essa questão armamentista. Nós não concordamos com sua concepção.
Consideramos que a desmobilização dos exércitos aconteceu na União
Soviética e nos Estados Unidos.
A senhora menciona que vocês tinham 12 milhões de homens armados,
mas, em seu país, homens e mulheres estavam todos mobilizados. Em nosso
país, morreu aproximadamente o número de pessoas que compunham seu
exército, quase o mesmo número de pessoas. Sra. Roosevelt, não quero
ofendê-la, mas se a senhora compara as perdas de seu país à nossa, suas
perdas se igualam a apenas uma grande campanha, a um grande ataque dos
alemães.
A senhora sabe da terrível destruição e ruína que tivemos, nossa
mineração, nossa metalurgia. Perdemos nossas cidades. É por isso que
nosso país estava tão impaciente em estabelecer a paz, em firmar a paz.
Nenhum país desejou isso tão impacientemente quanto nós.
Quando falamos em desmobilização, apenas alguns círculos em seu país o
querem. Outros pensam e acreditam que a nação soviética deveria perecer
como estado socialista, esperam que pereçamos, que morramos.
ROOSEVELT: Não consigo entender isso. O sr. quer dizer que acha que
nós pensamos, ou pelo menos alguns círculos, que todos os países
socialistas deveriam acabar?
KRUSCHEV: Exatamente. Mas estas esperanças falharam e vocês podem ver
agora que nosso estado socialista foi refeito sobre as ruínas,
restabeleceu sua economia e tornou-se inclusive mais poderoso.
ROOSEVELT: Entendo, sr. Kruschev, mas os soviéticos tiveram uma
proporção muito maior de homens armados na guerra do que nós tínhamos na
época.
(Dr. David Gurewitsch, que viajava pela Rússia comigo, estava fazendo
a gravação da conversa, e ao mesmo tempo ouvindo para se certificar de
que as traduções estivessem corretas, já que ele conhecia a Rússia e
tinha autorização para fotografar. Então interrompeu para dizer: “não
somente a proporção, mas em números absolutos era muito maior –6 milhões
de soldados soviéticos”).
KRUSCHEV: Dr. Gurewitsch, o senhor sabe perfeitamente o número de
seus homens armados, mas não fique tão seguro a respeito dos nossos
homens armados. O senhor não sabe. (Virando-se para a sra. Roosevelt)
Não refuto que nosso exército fosse maior que o seu. Nós abordamos essa
questão de uma maneira tranquila, calma. Então isso pode ser analisado
de um jeito razoável e fácil de compreender.
Pegue um mapa e olhe a localização ou situação geográfica de nosso
país. Isto é um território colossal. Sra. Roosevelt, se a senhora pega a
Alemanha ou a França, pequenos países que mantêm seus exércitos para
defendê-los tanto a Leste quanto a Oeste, é fácil. Eles podem ter um
exército pequeno. Mas se nós mantemos nossos exércitos no Leste,
dificilmente ele chegará ao Oeste, entende, porque nosso território é
vasto demais. Ou o exército que está no Norte não tem como ser usado no
Sul.
Então, para estar certo de nossa segurança, precisamos de um exército
grande, o que não é fácil para nós. Quando as pessoas falam sobre
fronteiras, falam em 3 mil quilômetros, o que é a distância entre os
continentes. Mas se nós movemos nosso exército do Leste para o Oeste,
isso significa 3 mil quilômetros.
ROOSEVELT: Entendo tudo isso, claro, mas o senhor não tem nada a
temer vindo do Norte. Em Ialta, a derrota da Alemanha foi aceita, e eu
entendo que o senhor não queira que a Alemanha se reerga como uma
potência militar e que queira um grupo de países neutros entre o seu e a
Alemanha. Entendo que estes países sejam livres mas que precisem estar
próximos à União Soviética, já que a URSS está pensando em sua proteção.
Hoje, certamente, Grã-Bretanha, França e Alemanha não são uma ameaça
militar. Eu não digo que não podem se tornar, mas não são atualmente.
Estão somente em base defensiva. Então acho que se pode discutir muito
calmamente como um país como a União Soviética pode estar segura –desejo
e necessidade que entendo perfeitamente–, e ainda assim não ter um
exército ofensivo, porque isso assusta o resto do mundo.
KRUSCHEV: O que posso lhe dizer, sra. Roosevelt? No momento em que
aumentamos nossos exércitos, significa que tememos um ao outro. As
tropas russas, antes da revolução, nunca se aproximaram da Grã-Bretanha e
nunca invadiram a América. Até mesmo nos velhos tempos elas nunca foram
aos EUA, mas as tropas americanas vieram ao Leste, as tropas japonesas
estiveram em nosso Extremo Oriente, em Vladivostok, as tropas francesas
em nossa cidade de Odesssa, e é por isso que temos um exército. Suas
tropas se aproximam de nosso território, não as nossas ao seu.
Nunca fomos ao México ou ao Canadá, mas suas tropas foram lá, então é
por isso que temos um exército em caso de perigo. Até que as tropas se
retirem da Europa e as bases militares sejam liquidadas, é certo que o
desarmamento não acontecerá.
ROOSEVELT: O tipo de armamento de hoje é que é importante mudar. Isto
não era usado nos velhos tempos. Nós estamos reduzindo nosso exército,
mas o que importa atualmente são as armas atômicas, e é por isso que
acho que a ênfase terá que ser em como podemos chegar a um acordo.

(A arrogância americana, estrelando Richard Nixon, então vice-presidente, com Kruschev em 1959. Foto: Elliot Erwitt)
4 October 1957
CINCINNATI—Em um esforço para descobrir se Nikita S. Kruschev, líder
do PC da URSS, acha que o mundo comunista pode algum dia viver em paz
com seus democráticos vizinhos, coloquei questões a respeito em nossa
recente entrevista gravada em Ialta.
Continuando de ontem:
Sr. Kruschev, gostaria de prosseguir e perguntar minha próxima questão.
Não suspeitamos da URSS à primeira vista, lutamos na guerra juntos.
Meu marido, e acho que também o presidente Truman, tinham uma esperança
real de que pudéssemos chegar a um entendimento.
Agora, sentimos nos EUA que alguns dos acordos feitos em Ialta não
foram seguidos estritamente pela URSS, e a desconfiança começou a
crescer. Lamento dizer que esta desconfiança é parcialmente causada pelo
pouco intercâmbio entre nosso países.
Temos que fazer alguma coisa de ambos os lados para recuperar a
confiança, então gostaríamos –mesmo que o senhor ache que nossa proposta
de algum tipo de inspeção seja impraticável, já que nenhum lado
necessita esconder o que está produzindo– ainda assim gostaríamos de
sentir algum esforço por algum tipo de acordo, mesmo que nenhum de nós
ache esse acordo inteiramente adequado.
Nosso povo gostaria de sentir que há mais boa vontade por parte dos
soviéticos de considerar a proposta, que não é propriamente nossa, mas
do Ocidente.
KRUSCHEV: Sobre o acordo de Ialta, temos diferentes pontos de vista
sobre quem o rompeu. Não concordamos com a política dos EUA de que eles
querem libertar a Europa e os países do Leste do socialismo. Eles não
somente anunciaram, como deram dinheiro para isso. Criaram estações de
rádio e fazem propaganda.
Eles nos culpam de ser os responsáveis pela (antiga)
Tchecoslováquia ter estabelecido um regime socialista. Mas todos sabem
que quando a revolução aconteceu na Tchecoslováquia, nem um só soldado
russo estava em seu território.
A senhora sabe, sra. Roosevelt, o que aconteceu na Grécia –o desejo
do povo foi destruído por tanques ingleses. Quando o próprio sr.
Churchill atravessou o país em um tanque, o desejo do povo foi
destruído. Após as tropas inglesas irem embora, vieram as tropas
americanas.
ROOSEVELT: O senhor se importa se eu disser que nós acreditávamos que
não era o desejo do povo? Nós acreditávamos que a maioria do povo
queria o rei de volta e não queria os socialistas. Veja, esta é a
diferença entre nós.
Então eu gostaria de ir para minha terceira questão, que é: o governo
da União Soviética ainda acredita que o mundo se tornará comunista? Ou
acredita que os dois sistemas podem coexistir em paz, porque este é o
xis da questão?
O senhor diz que nós tentamos impedir estas nações de se tornarem
socialistas, mas é porque acreditamos que a União Soviética deseja se
estender pelo mundo, não somente pelo uso de soldados mas por meio de
outros agentes, que nossa desconfiança cresceu.
KRUSCHEV: Também sou um agente?
ROOSEVELT: Pelo que sei, deve ter sido. Mas o que se acredita em nosso país é que vocês escalaram agentes com esse objetivo.
KRUSCHEV: Mas quem escalou?
ROOSEVELT: Acredita-se que há um esforço constante –vamos dizer
sugestão– às pessoas de que o mundo se tornará assim. Agora, nós não
acreditamos que o mundo será assim. Nós acreditamos em nosso jeito e
vocês em seu jeito.
KRUSCHEV: Por isso colocamos nossos agentes –agentes das filosofias diferentes– nas Nações Unidas.
ROOSEVELT: Podemos viver no mesmo mundo sem tentar destruir um ao
outro, e, portanto, ameaçando um ao outro? Ou vamos continuar nessa
constante ameaça de guerra porque ambos pensamos que o outro está
tentando promover somente a sua filosofia para o mundo inteiro?
KRUSCHEV: Duas questões, sra. Roosevelt, duas questões. A primeira é
sobre duas filosofias que poderiam conviver em paz. Sem dúvida, sra.
Roosevelt, nós precisamos viver em paz, nós precisamos viver, nós
precisamos. (Dr. David Gurewitsch interrompe: não somente precisamos
viver em paz, mas nós queremos viver em paz e nós nos esforçamos para
viver em paz nos EUA).
ROOSEVELT: Concordo.
KRUSCHEV: Nós também queremos ter, veja, alguma coisa em comum em nossa atividade econômica, em nossa vida cultural.
ROOSEVELT: Sua filosofia sozinha pode se espalhar pelo mundo porque esse é o lema, no topo de seu jornal, por exemplo?
KRUSCHEV: Sim, temos um lema: “proletários de todo o mundo, uni-vos”.
Não foi minha idéia. Nós diferimos sobre nossos assuntos externos.
Nunca me escondi destas questões.
A frase que, estou seguro, disse ao Columbia Broadcasting System foi:
o comunismo vencerá no mundo inteiro. Isso é baseado cientificamente
nos escritos de Marx, Engels e Lenin. Seu povo nos EUA é culto, então
sabe que todo tipo de mudança ocorre na economia e que as relações entre
as nações mudam –feudalismo, capitalismo e então socialismo. E o
estágio mais elevado será o comunismo. Isso é bem conhecido, é o sentido
da história.
Quando um estado muda sua ordem, é problema do povo. Nós somos
contrários a tentativas militares de introduzir o comunismo ou o
socialismo em qualquer país, assim como somos contrários à sua
interferência em restabelecer o capitalismo em nosso país através de
intervenção militar. É por isso que insistimos na coexistência e
colaboração.
ROOSEVELT: Eu poderia concordar que mudanças ocorrem no mundo.
Poderia concordar que nenhuma ação militar deveria impedir essas
mudanças. Diria inclusive que é essencial que não haja interferência de
nosso país em países comunistas, a não ser por meio de intercâmbio e
observação pacíficos.
Mas o mesmo vale para os países socialistas. Se há uma movimentação
para impor ideias comunistas, fica difícil viver em uma atmosfera
pacífica.
KRUSCHEV: Nós falamos sobre interferência, sra. Roosevelt, e a
senhora sabe o que seu Departamento de Estado faz nesta esfera. Deixe o
Sr. Dulles (então secretário de Estado, John Foster Dulles tinha uma postura fortemente anti-comunista) informar o que o Sr. Henderson (o diplomata Loy Henderson, sub-secretário de Estado) tinha em vista quando visitou a Turquia e o resto dos países do Extremo Oriente. O sr. Henderson tinha uma missão bem suja.
ROOSEVELT: Acho que a situação de todo o Oriente Próximo esteve bem
ruim, mas nós pensamos que a União Soviética começou isso quando deixou
que armas da Tchecoslováquia fossem para o Cairo. Hoje sabemos que eram
soviéticas ou de aliados as armas usadas pelos egípcios.
O senhor sabe que durante longo tempo os egípcios vêm dizendo a
Israel que iriam empurrá-los até o mar. Israel foi aceito como país
pelas Nações Unidas. É um Estado que poderia ajudar, por possuir
avançada tecnologia, a melhorar as condições de vida em todo Oriente
Próximo se estas nações pudessem todas sentar juntas para uma discussão
pacífica.
Mas agora vocês estão armando a Síria para preservar o que chamam de “neutralidade síria”.
Outro dia li no jornal que nós demos 117 milhões de dólares a Israel e
que lhe dissemos para ocupar a zona desmilitarizada entre a Síria e
Israel. Nós podemos ter dado o dinheiro, mas nunca dissemos para eles
que ocupassem a zona. Estou segura disso.
Acredito que esta situação poderia ter sido infinitamente melhorada
há muito tempo por ambos, soviéticos e nós. Por causa do fluxo de armas
para o Egito e a Síria, agora sentimos que, quando outros países árabes
pedem armas, nós temos de ajudá-los.
Meu sentimento é de que se nenhum de nós tivesse dado armas, mas
ajudado a melhorar as condições de vida das pessoas, estaríamos fazendo
algo útil. Hoje o que há é nada mais que uma corrida para ver qual de
nós pode estar no prato de cima desta balança do poder militar.
5 October 1957
CINCINNATI—Questionei Nikita S. Kruschev, líder do Partido Comunista
da União Soviética, em minha entrevista com ele em Ialta, sobre a
posição soviética no Oriente Próximo e ele acusou os Estados Unidos de
vender primeiro armas a países nesta área. Aqui está a continuação da
entrevista:
ROOSEVELT: Não podemos chegar a uma reconsideração de nossa inteira atitude no Oriente Médio?
KRUSCHEV: Sra. Roosevelt, a senhora não sabe das propostas que foram
feitas pela União Soviética, de que nenhum país poderia vender armas a
qualquer país do Oriente Próximo. Os EUA recusaram.
(Dr. David Gurewitsch, interrompendo: Recusamos somente após as armas
já terem sido enviadas ao Egito e à Síria pela União Soviética. O
equilíbrio já havia sido destruído.)
KRUSCHEV: O senhor é o chefe dos suprimentos militares, Dr. Gurewitsch? Não considero que o senhor conheça a situação exata.
ROOSEVELT: Não acho que nenhum de nós conheça a situação exata, mas
isto poderia, de qualquer maneira, ser levado à conferência de
desarmamento ou às Nações Unidas.
KRUSCHEV: Pergunto à senhora: Quem começou primeiro a vender armas para estes países? Nós ou vocês? O que me diz do Paquistão?
ROOSEVELT: Acho que foram vocês. O Paquistão não está no Oriente Próximo. É bem mais longe.
(Dr. Gurewitsch, interrompendo: A questão era: quem vendeu armas primeiro?)
ROOSEVELT: Eu diria que nós acreditamos que a União Soviética começou
primeiro a vender armas a outros países. Acho que a única coisa que se
pode fazer agora é levar a questão às Nações Unidas e tentar algum
acordo
KRUSCHEV: A senhora não respondeu minha questão. Vocês não gostam de
comunistas e eu não tenho nada contra isso, porque pode ser que eu não
ame pessoas que estão em outros sistemas. Mas as pessoas precisam ser
honestas. Por isso faço essa pergunta: quem vendeu primeiro armas a
outros países e não só vendeu, mas entregou gratuitamente? Quem foi o
primeiro?
Tenho muito respeito pela senhora e aprecio as atividades de seu
grande marido, Franklin Roosevelt, mas o mundo inteiro sabe que os EUA
começaram primeiro a fornecer armas, então eu esperava francamente ter
uma conversa honesta. Do contrário não estaremos seguros sobre a
interpretação desta conversa.
ROOSEVELT: Estamos falando do Plano Marshall?
KRUSCHEV: Não importa se é o Marshall ou qualquer outro plano. Eu sei que os EUA armaram todos os nossos inimigos.
ROOSEVELT: A ênfase do plano Marshall era no desenvolvimento econômico dos países.
KRUSCHEV: Armas são ajuda econômica?
ROOSEVELT: Concordo que muitos países no Ocidente receberam armas, e
vejo agora que a União Soviética sente que foram fornecidas contra seu
país. Mas nós, nos EUA, diríamos que tínhamos chegado a um ponto em que
começamos a sentir que a União Soviética possuía intenções militares
contra o Ocidente.
KRUSCHEV: Para que as armas foram fornecidas? Nós nunca as usamos na hora do chá.
ROOSEVELT: Acho que nossa primeira suspeita surgiu na época do
“Bloqueio de Berlim”, quando os soviéticos pareciam estar tentando nos
expulsar de lá (entre junho de 1948 e maio de 1949, suprimentos
foram entregues via aérea em Berlim Ocidental, já que os soviéticos
bloquearam o acesso rodoviário, ferroviário e hidroviário à cidade).
Garanto ao senhor que nós cometemos erros, mas acho que vocês também.
Estando aqui, me dei conta de que seu povo não quer a guerra.
KRUSCHEV: Se a senhora diz que o povo não quer a guerra, quem quer, seus representantes?
ROOSEVELT: O governo, talvez, já que faz coisas, em ambos os lados,
que acreditam ser em defesa do povo. Isto acontece em seu país e
provavelmente no nosso.
KRUSCHEV: Isto acontece no seu país.
ROOSEVELT: Se é assim, também no seu.
KRUSCHEV: Não no meu, definitivamente.
ROOSEVELT: Ah, acontece. Governos são muito parecidos.
KRUSCHEV: Existem sinais. Há lógica; existe o histórico, então
precisamos checar. Que tropas se aproximaram da fronteira? Os soviéticos
se aproximaram da fronteira americana? Foram os americanos que se
aproximaram da fronteira soviética. Sim, eles estão lá.
ROOSEVELT: Nós não tentamos entrar na União Soviética.
KRUSCHEV: Tentaram.
ROOSEVELT: Não tentamos. Mas isso poderia ser tomado somente como uma
atitude defensiva se tivéssemos alguma forma de coexistência amigável.
Não podemos continuar nos armando de ambos os lados. Poderíamos
trabalhar por um maior intercâmbio de pessoas em todos os níveis para
conseguir um maior entendimento?
KRUSCHEV: Estou surpreso, sra. Roosevelt. Talvez a senhora não esteja
muito bem informada sobre a situação. Nós nunca nos recusamos. Nós
sempre permitimos que as pessoas viessem aqui, mas vocês nunca deram
vistos a nossos cidadãos.
ROOSEVELT: Nós nem sempre permitimos que comunistas venham aos EUA
nem vocês sempre permitem que pessoas deixem seu país, mesmo que
conseguíssemos vistos para eles.
KRUSCHEV: Conte-nos sobre alguém que não fosse autorizado a entrar aqui.
ROOSEVELT: Não estou dizendo que vocês não permitem que pessoas
venham a URSS, mas vocês levam muito tempo para garantir seus vistos.
Do seu lado, vocês não querem aceitar nossas impressões digitais. E
nós não vemos nenhum problema em tomar impressões digitais. O que nos
preocupa é a dificuldade das pessoas que querem deixar a União
Soviética, até mesmo para visitas.
KRUSCHEV: Nós autorizamos todo mundo a vir aqui, não importa o quanto
ele desgoste da União Soviética, para ver como é. Não temos medo.
ROOSEVELT: Eu poderia resumir o sentimento do povo dos EUA dizendo
que o que os soviéticos fizeram em Berlim originaram nossas
desconfianças. Coréia do Norte, Vietnã do Norte, Egito e Síria se
somaram a elas. Os mal-entendidos cresceram e há medo em ambos os lados.
Temos que fazer algo para criar confiança. Uma coisa que pode ser feita
é um intercâmbio maior de pessoas.
KRUSCHEV: Concordo totalmente, Sra. Roosevelt.
ROOSEVELT: O senhor tem alguma sugestão ou alguma pergunta para mim?
KRUSCHEV: Nós colocamos várias vezes nossas propostas. Mas os EUA
estão acostumados a ditar, a ordenar, então falam somente sobre as
condições que irão aceitar. Quero esclarecer em termos de palavras e
ações. Onde estão as tropas e de quem são as tropas?
ROOSEVELT: Se pudéssemos parar de pensar por um momento sobre armas
atômicas, ainda assim teríamos na URSS um exército de prontidão tão
grande que poderia mover-se rapidamente pela Europa, e isso faz os
europeus ficarem temerosos se não possuem nenhuma defesa.
KRUSCHEV: Houve um tempo em que na Alemanha, na Inglaterra e na
França não havia nenhum exército americano e nosso exército era muito
maior, mas nós não fizemos nada. Não somos estúpidos ao ponto de fazer
truques. Nunca tentamos nada contra estes países.
ROOSEVELT: Quando você lê um jornal na União Soviética, vê muito
poucas notícias sobre o estrangeiro. Todas as menções sobre os EUA são
sobre alguma coisa ruim que aconteceu lá. Por exemplo, as únicas
notícias que vi foi o que ocorreu em Little Rock, Arkansas, sobre
integração (racial) nas escolas, mas este problema afeta 7 de 48
estados.
KRUSCHEV: Mas estes sete Estados são os EUA da América.
ROOSEVELT: Somente uma parte pequena.
KRUSCHEV: Nós temos também repúblicas pequenas. Elas integram a URSS e são iguais em direitos.
ROOSEVELT: Nós não temos controle central, então nossos Estados possuem direitos específicos.
KRUSCHEV: Em nosso país, cada república tem seus próprios direitos.
Elas são independentes. Mas vamos voltar à questão que a sra. falou:
vocês dizem alguma coisa boa sobre a URSS em seus jornais?
ROOSEVELT: Acho que tem melhorado, e não há toda essa vilanização que
encontro nos jornais aqui. Mas gostaria de dizer que não sinto
antagonismo conosco entre o povo. Eles são muito afetuosos e receptivos.
ROOSEVELT: Vocês estão ansiosos por um maior intercâmbio econômico?
KRUSCHEV: Sim, estamos. Não porque necessitamos, mas porque o
intercâmbio econômico é a melhor maneira de intensificar as relações.
Vocês não querem ter relações comerciais com nosso país porque não
querem nos dar segredos militares. Mas não importa, porque nós temos
armas atômicas. Não vamos comprar armas de vocês, mas ficaríamos
contentes de fazer negócios.
(Aqui Dr. Gurewitsch interrompeu e disse: O que mais pode ser feito para melhorar nossas relações?)
ROOSEVELT: É o que estou mais ansiosa para descobrir.
KRUSCHEV: Diga a verdade para o povo dos EUA. Diga a verdade sobre o
governo soviético e sobre nosso país. Vocês odeiam comunistas.
ROOSEVELT: Eu não odeio os comunistas enquanto povo. O que acontece é
que acredito que, através de uma democracia livre, se desenvolve um
povo mais independente e forte e se dá a eles a oportunidade de
conquistar mais. É uma opinião pessoal e posso entender bem a crença
socialista, mas isso não significa que eu queira ver esta crença
espalhada utilizando métodos de propaganda que não são sempre abertos e
legítimos –por métodos ocultos.
Estou bastante aberta a que ambos possamos fazer o possível para
provar, no futuro, que do nosso jeito é melhor. Mas sinto que temos de
achar um método para conseguir relações mais amigáveis ou isto acabará
numa guerra que nenhum de nós quer.
(Dr. GUREWITSCH, interrompendo: O senhor acabou de dizer: “Nós amamos
a paz mas estamos convencidos de que o comunismo irá se espalhar pelo
mundo.” Como isto será feito pacificamente? Ou o senhor reconhece que
uma ideia oposta tem alguma chance ou simplesmente borra a oportunidade
de coexistência. O senhor precisa aceitar que as duas coisas podem
continuar, ainda que não cheguem jamais a um ponto comum.)
KRUSCHEV: Muitas pessoas acreditam que o comunismo é melhor que o sistema que existe hoje.
(Dr. GUREWITSCH de novo: Não há uma contradição no que o senhor está
dizendo? Conversamos sobre coexistência e no mesmo minuto o senhor diz
que está convencido de que o comunismo se espalhará pelo mundo. Vocês
não estão fazendo todo o possível para acelerar este processo?)
KRUSCHEV: Oh, não, não há contradição. O que eu disse sobre o
comunismo se espalhar é como falar sobre as leis da natureza. Estou
firmemente convencido de que é o curso natural da história e não tem
nada que ver conosco convivendo pacificamente juntos e parando de tentar
destruir-nos um ao outro.
ROOSEVELT: Ambos sabemos, então, que as bombas são perigosas e que podem aniquilar o mundo.
KRUSCHEV: Somos a favor do desarmamento completo. Não necessitamos
armas se vocês aceitarem nossa existência e pararem de interferir onde
querem.
ROOSEVELT: Nós também somos pelo desarmamento, mas é preciso que haja alguma inspeção internacional.
KRUSCHEV: Nós aceitamos a inspeção, mas primeiro tem que haver
confiança e depois inspeção. O sr. Dulles quer inspeção sem confiança.
ROOSEVELT: Acho que a confiança e a inspeção tem que vir juntas. Precisamos começar e gradualmente ampliar nossos planos.
KRUSCHEV: Ótimo. Só gradualmente isso pode acontecer.
ROOSEVELT: O senhor concordaria com uma inspeção limitada se nós começássemos?
KRUSCHEV: Mas eu concordei. É o que propusemos, inspeção em portos,
rodovias, estradas, aeroportos, e tem que ser uma inspeção entre nações.
Mas em resposta a sua proposta, o Sr. Dulles fez um pronunciamento que
soou tão forte como se tivesse fazendo propaganda da bomba atômica,
tentando fazer disto algo palatável. Ele fala de uma bomba limpa, como
se fosse possível algo assim. Guerra é uma coisa suja.
Mas vocês recusam nossa sugestão. Vocês insistem neste negócio dos
aviões e em olhar nossas fábricas. Vocês sabem que estes foguetes
fizeram a situação mais aterrorizante. Agora podemos destruir países em
poucos minutos. Quantas bombas são necessárias para destruir a Alemanha
Ocidental? Quantas para destruir a França? A Inglaterra? Somente umas
poucas. Nós temos agora a bomba H e foguetes. Não precisamos nem mesmo
enviar nenhum bombardeiro.
ROOSEVELT: E logo pequenos países terão bombas atômicas.
KRUSCHEV: Por que não? As pesquisas continuam, eles estão aprendendo.
Temos que estar juntos para que não ocorra a guerra. Precisamos assinar
algum acordo agora.
ROOSEVELT: Seu povo certamente quer paz, e posso assegurar que o nosso também.
KRUSCHEV: A senhora acha que nós, o governo, queremos a guerra?
ROOSEVELT: Não são as pessoas que fazem as guerras, mas os governos. E
então persuadem as pessoas que são por uma boa causa, para sua própria
defesa. Estes argumentos podem ser feitos tanto por nosso governo como
pelo seu.
KRUSCHEV: Certo. Podemos dizer que tivemos uma conversa amigável?
ROOSEVELT: Podemos dizer que tivemos uma conversa amigável, mas divergimos.
KRUSCHEV: Bem, não atiramos um no outro.
Isto foi realmente o fim do que posso transmitir a vocês em termos de
citações. Houve, porém, uma discussão muito interessante sobre um tema
de grande interesse, porque é sobre o Oriente Próximo. Então dedicarei
minha próxima coluna a esta parte da conversa, apesar de não citar as
palavras exatas do Sr. Kruschev.
(NOTA DO EDITOR: Como a Sra. Roosevelt está sendo pressionada
continuamente a revelar informações sobre sua entrevista com Nikita S.
Kruschev e não quer fazê-lo antes de que apareça em sua coluna, o resto
da entrevista está aqui. Por isso está maior do que usualmente.)
8 October 1957
DETROIT—Uma das questões que submeti ao sr. Kruschev após a gravação
ter terminado era sobre sua atitude a respeito da situação do Oriente
Próximo e o tratamento dos judeus na União Soviética, como também sobre
alguns de seus pronunciamentos sobre o Estado de Israel.
O sr. Kruschev pareceu muito ansioso para nos fazer entender que um
comunista não poderia ser um anti-semita. Comunismo é o oposto a todo
tipo de discriminação por raça ou religião e se um membro do partido se
revelasse um anti-semita, ninguém o cumprimentaria. Se Karl Marx era
judeu, como poderíamos acreditar que algum comunista poderia ser
anti-semita? Seu próprio filho, que foi morto na guerra, ele nos disse,
era casado com uma judia. Na União Soviética, continuou, os judeus
recebem todas as oportunidades para se educar e assegurar posições na
vida. Ele então disse que os soviéticos votaram a favor da criação do
Estado de Israel, mas no momento acham que Israel deveria mudar sua
política e ser menos agressivo.
Sugeri que o fato de a União Soviética ter dado armas para a Síria
seja uma das razões para que Israel se sinta inseguro e por isso se
mostre agressivo. Ele se inflamou e disse que existem 80 milhões de
árabes e 1 milhão de israelenses, então se Israel continuar sua política
será destruído. Quem atacou o Egito?, ele perguntou. Não foram a
Grã-Bretanha, a França e Israel?
Respondi que tínhamos de separar a atitude de Israel da francesa e da
britânica. Israel ouvira durante um ano dos egípcios que quando eles
estivessem completamente armados pelos soviéticos iriam empurrar os
israelenses até o oceano. Então a ação de Israel foi de auto-defesa,
porque não podiam esperar até que o ataque contra eles estivesse pronto.
Prova disso foi que, no deserto do Sinai, os israelenses encontraram
mais de 50 milhões de dólares em material militar que tinha sido
fornecido pelos soviéticos ou por seus aliados.
O sr. Kruschev se esquivou desta. Quando adicionei que acho que ele
está equivocado ao dizer que Israel era agressivo, porque necessita paz
mais que qualquer outro lugar no mundo para fortalecer seu país, ele se
virou para mim e disse: “Os EUA estão fornecendo armas a Israel”. Aqui o
dr. Gurewitsch interrompeu e disse: “Mas você lembra que os EUA votaram
com vocês na questão de Suez?”
O sr. Kruschev respondeu que lembrava muito bem, mas que era evidente
que os EUA queriam ficar bem com os dois lados. Eles não queriam perder
os árabes por causa do petróleo, e os árabes entenderam isso muito bem.
Então virou-se para mim para dizer quão estúpida ele achava a ideia de
que existia anti-semitismo na União Soviética. Eu não sabia que havia
muitos judeus em altas patentes no exército soviético, incluindo um
general judeu, e que havia um judeu enterrado dentro dos muros do
Kremlin?
Pensei que poderia adotar suas táticas de ataque nesse momento, e
disse: “De qualquer maneira, senhor, é muito difícil para qualquer judeu
deixar a União Soviética se ele desejar se estabelecer em Israel ou até
mesmo visitar o país”.
“Eu sei”, respondeu o sr. Kruschev sem hesitar; “mas chegará o tempo em que qualquer um que queira ir poderá fazê-lo”.
Eu disse então que achava que a União Soviética poderia ajudar se
estivessem querendo trabalhar ao lado dos Estados Unidos para conseguir
um entendimento entre Israel e os países árabes. Israel estava dispostoa
sentar com os representantes árabes e tentar resolver suas
dificuldades, mas os árabes sempre se recusaram.
O sr. Kruschev respondeu que sabia muito bem que os árabes cometiam
erros; mas nós precisamos lembrar que a União Soviética agia por uma
classe, não por um Estado. Israel consiste em todos os tipos de classes;
os soviéticos podiam agir pelos socialistas em Israel, não pelo Estado!
(Presumo que quando o sr. Kruschev falou em “socialistas”, quis dizer
comunistas.)
Não há dúvida que os soviéticos estão tentando integrar os judeus
completamente. Inclusive estão orgulhosos do fato de permitirem a várias
repúblicas manter suas próprias culturas, sua própria arte e linguagem.
Mas os judeus na União Soviética não estão numa república à parte; eles
estão espalhados em diferentes cidades. Acho que os soviéticos sentiram
que poderiam fazer bom uso dos cérebros dessas pessoas, mas eles os
querem como comunistas, não como um povo com uma cultura diversa e
talvez com outra crença política. É por isso que não existe um teatro
judeu na União Soviética. Eles permitem que atendam à sinagoga, assim
como permitem que as pessoas vão às igrejas ortodoxas ou batistas. Cada
uma destas religiões pode manter um certo número de rabinos ou
ministros. Mas não há uma escola judaica para crianças, já que eles
querem que os judeus frequentem escolas soviéticas comuns.
É bem verdade que os judeus ocupam altos postos nos ministérios entre
doutores, professores, cientistas, etc. Mas a cultura judaica
certamente não é encorajada, e estou segura de que um número
significativo de judeus ficaria feliz de obter permissão para visitar
Israel por algum tempo. Teremos que esperar para saber quando a promessa
do Sr. Kruschev de que “o tempo virá” será cumprida (isso só
acontece a partir de 1969, quando os judeus soviéticos passam a ter
direito à emigração. Já era presidente da URSS Leonid Brejnev, que
substituiu Kruschev).