Ucrânia: Poroshenko, o camaleão
Eleito no 1º turno do pleito de domingo 25, o novo presidente da Ucrânia serviu sob governos favoráveis ao Ocidente e à Rússia.
Por Gianni Carta.
Petro Poroshenko era o menos ruim dos
candidatos à Presidência. Aos 48 anos, o magnata das confeitarias mais
conhecido como “Rei do Chocolate” é considerado um pragmático. O motivo?
Foi ministro nos governos sob a presidência do pró-Europeu Viktor
Yushchenko e do corrupto pró-russo Viktor Yanukovich. De fato,
Poroshenko é um dos fundadores do pró-russo Partido das Regiões, o de
Yanukovich. E quando eclodiram os protestos na Praça Maidan em novembro
de 2013, pelo fato de Yanukovich não ter assinado um acordo de
livre-comércio com a União Europeia – enquanto o presidente flertava com
a Rússia –, Poroshenko deu o ar da graça ao lado dos manifestantes. Em
fevereiro, Yanukovich escapuliu para a Rússia. Poroshenko sentiu,
certamente, que suas chances de ser o novo presidente eram fortes.
candidatos à Presidência. Aos 48 anos, o magnata das confeitarias mais
conhecido como “Rei do Chocolate” é considerado um pragmático. O motivo?
Foi ministro nos governos sob a presidência do pró-Europeu Viktor
Yushchenko e do corrupto pró-russo Viktor Yanukovich. De fato,
Poroshenko é um dos fundadores do pró-russo Partido das Regiões, o de
Yanukovich. E quando eclodiram os protestos na Praça Maidan em novembro
de 2013, pelo fato de Yanukovich não ter assinado um acordo de
livre-comércio com a União Europeia – enquanto o presidente flertava com
a Rússia –, Poroshenko deu o ar da graça ao lado dos manifestantes. Em
fevereiro, Yanukovich escapuliu para a Rússia. Poroshenko sentiu,
certamente, que suas chances de ser o novo presidente eram fortes.
A Polônia será o primeiro país
estrangeiro que Poroshenko visitará. Um gesto altamente simbólico, visto
que Varsóvia tem fortes elos com Kiev e faz parte da União Europeia.
“Escolhemos a Europa”, disse Poroshenko no seu primeiro discurso. Em
seguida, Poroshenko quer ir a Moscou, e os russos já aceitaram o
“diálogo” com o novo presidente. O diálogo, diga-se, será difícil. Isso
porque Poroshenko não aceita a anexação pelos russos da Crimeia, em
março. Na Ucrânia, o primeiro destino de Poroshenko será Donbass, a
região industrial ao leste do país. Lá, está claro, ele também terá
dificuldades. As regiões autoproclamadas independentes de Donetsk e
Luhansk, rebatizadas Nova Rússia, só o aceitarão como presidente se
Poroshenko, por sua vez, aceitar a independência das duas regiões
unificadas. União que Poroshenko já disse não aceitar.
estrangeiro que Poroshenko visitará. Um gesto altamente simbólico, visto
que Varsóvia tem fortes elos com Kiev e faz parte da União Europeia.
“Escolhemos a Europa”, disse Poroshenko no seu primeiro discurso. Em
seguida, Poroshenko quer ir a Moscou, e os russos já aceitaram o
“diálogo” com o novo presidente. O diálogo, diga-se, será difícil. Isso
porque Poroshenko não aceita a anexação pelos russos da Crimeia, em
março. Na Ucrânia, o primeiro destino de Poroshenko será Donbass, a
região industrial ao leste do país. Lá, está claro, ele também terá
dificuldades. As regiões autoproclamadas independentes de Donetsk e
Luhansk, rebatizadas Nova Rússia, só o aceitarão como presidente se
Poroshenko, por sua vez, aceitar a independência das duas regiões
unificadas. União que Poroshenko já disse não aceitar.
De qualquer forma, a competição no
pleito era fraca para Poroshenko. Yulia Timoshenko, a liderar a
agremiação Batkivshchyna (Pátria), heroína da Revolução Laranja, em 2004
(provocada por fraude eleitoral de Yanukovich), agora está com a imagem
um tanto desgastada. Aos 53 anos, suas tranças loiras com coroa capilar
continuam lindas, mas ela passou anos atrás das grades por aceitar um
controverso contrato de gás com a Rússia. Agora ela busca justiça
social… No entanto, ideologia é algo difícil de explicar em um país de
23 anos. O mais sensato é dizer que aqui os políticos mudam de ideologia
de acordo com as circunstâncias. De fato, Poroshenko quer fazer
renascer seu Partido Solidariedade, que seria, acreditem, de
centro-esquerda.
pleito era fraca para Poroshenko. Yulia Timoshenko, a liderar a
agremiação Batkivshchyna (Pátria), heroína da Revolução Laranja, em 2004
(provocada por fraude eleitoral de Yanukovich), agora está com a imagem
um tanto desgastada. Aos 53 anos, suas tranças loiras com coroa capilar
continuam lindas, mas ela passou anos atrás das grades por aceitar um
controverso contrato de gás com a Rússia. Agora ela busca justiça
social… No entanto, ideologia é algo difícil de explicar em um país de
23 anos. O mais sensato é dizer que aqui os políticos mudam de ideologia
de acordo com as circunstâncias. De fato, Poroshenko quer fazer
renascer seu Partido Solidariedade, que seria, acreditem, de
centro-esquerda.
Com 70% dos votos contados, o
“pragmático” Poroshenko contava na segunda-feira 26 com 53,75%,
Timoshenko com 13% e Oleg Liashko, um radical independente, com 8% do
sufrágio. O populista Liashko chegou a propor tomar militarmente as
regiões de Donetsk e Luhansk.
“pragmático” Poroshenko contava na segunda-feira 26 com 53,75%,
Timoshenko com 13% e Oleg Liashko, um radical independente, com 8% do
sufrágio. O populista Liashko chegou a propor tomar militarmente as
regiões de Donetsk e Luhansk.
O comparecimento às urnas foi
relativamente alto, de 60%, especialmente quando considerados os fatos
de que em Donetsk não houve colégio eleitoral, para citar um exemplo.
Isso sem contar as intimidações por parte de milicianos separatistas
pró-russos. E não somente em Donetsk e Luhansk, mas também em outras
regiões separatistas ao leste e sul do país. Em Sloviasnk, por exemplo, o
fotojornalista italiano Andrea Rocchelli, e seu interpréte, Andrei
Mironov, foram mortos.
relativamente alto, de 60%, especialmente quando considerados os fatos
de que em Donetsk não houve colégio eleitoral, para citar um exemplo.
Isso sem contar as intimidações por parte de milicianos separatistas
pró-russos. E não somente em Donetsk e Luhansk, mas também em outras
regiões separatistas ao leste e sul do país. Em Sloviasnk, por exemplo, o
fotojornalista italiano Andrea Rocchelli, e seu interpréte, Andrei
Mironov, foram mortos.
Em Kiev, as eleições, também municipais,
foram tranquilas. Debaixo de um enorme calor, no colégio eleitoral
localizado no Instituto de Pesquisa de Fisiologia Bogomelets, centro de
Kiev, Ivan Plachkov, ex-ministro de Energia de Yushchenko, disse a
CartaCapital: “Votei no candidato que pode vencer no primeiro turno”. O
motivo? Ele cita o exemplo de sua vinícola, às margens do Danúbio. “O
terroir, as uvas e a mão de obra são da Ucrânia. A tecnologia é italiana
e francesa.” Ele não usa uvas estrangeiras? “Claro, precisamos
experimentar novos vinhos, mas temos vinhos com uvas ucranianas vendidos
na Europa.”
foram tranquilas. Debaixo de um enorme calor, no colégio eleitoral
localizado no Instituto de Pesquisa de Fisiologia Bogomelets, centro de
Kiev, Ivan Plachkov, ex-ministro de Energia de Yushchenko, disse a
CartaCapital: “Votei no candidato que pode vencer no primeiro turno”. O
motivo? Ele cita o exemplo de sua vinícola, às margens do Danúbio. “O
terroir, as uvas e a mão de obra são da Ucrânia. A tecnologia é italiana
e francesa.” Ele não usa uvas estrangeiras? “Claro, precisamos
experimentar novos vinhos, mas temos vinhos com uvas ucranianas vendidos
na Europa.”
Em outro colégio eleitoral de Kiev, o
Clube do Exército, o calor inexiste. Ar condicionado. Uma jovem, Taiana
Batyuk, diz que votou em Poroshenko. “Ele é um empresário, acho que vai
saber administrar o país.” Ela começa a chorar. “Não quero mais ver a
imagem tão denegrida da Ucrânia mundo afora. Somos pobres, a Rússia nos
domina, a mansão de Yanukovich virou museu para estrangeiros.” Seu
companheiro, um sorridente jovem, Pinkevich Alexey, a conforta.
Clube do Exército, o calor inexiste. Ar condicionado. Uma jovem, Taiana
Batyuk, diz que votou em Poroshenko. “Ele é um empresário, acho que vai
saber administrar o país.” Ela começa a chorar. “Não quero mais ver a
imagem tão denegrida da Ucrânia mundo afora. Somos pobres, a Rússia nos
domina, a mansão de Yanukovich virou museu para estrangeiros.” Seu
companheiro, um sorridente jovem, Pinkevich Alexey, a conforta.
Eis Miroslava Kotorovich, violinista de
grande talento, com a filha. “Votei em Poroshenko. Espero que ele saiba
lidar com a UE e Putin. É a melhor opção.”
grande talento, com a filha. “Votei em Poroshenko. Espero que ele saiba
lidar com a UE e Putin. É a melhor opção.”
Quem sabe tem razão Kotorovich. Nascido
em Odessa, ele tem experiência em um país pós-comunista de 46 milhões de
habitantes onde empresários são vistos como pessoas que tomam suas
próprias decisões. São os oligarcas, que, bem ou mal, influenciam
políticos ou se tornam políticos.
em Odessa, ele tem experiência em um país pós-comunista de 46 milhões de
habitantes onde empresários são vistos como pessoas que tomam suas
próprias decisões. São os oligarcas, que, bem ou mal, influenciam
políticos ou se tornam políticos.
Segundo a revista americana Forbes,
Poroshenko vale 1,6 bilhão de dólares. No início da campanha eleitoral,
Poroshenko era o segundo favorito, atrás de Vitali Klitschko, campeão
peso pesado pelo Conselho Mundial de Boxe. Klitschko, da legenda Aliança
Democrática Ucraniana pela Reforma e herói na luta conta Yanukovich na
Praça Maidan, abriu mão, diga-se, de sua candidatura presidencial para
favorecer Poroshenko. Isso após um encontro em Viena entre ele,
Poroshenko e Dmytro Firtash, o magnata do gás recentemente preso em
Viena pelo FBI. Firtash, diga-se, é um grande lobista russo. “Há muitas
especulações sobre esse encontro e tantos outros nesse país onde
oligarcas são políticos ou fazem política”, diz o cientista político e
jornalista Oleg Varfolomeyev.
Poroshenko vale 1,6 bilhão de dólares. No início da campanha eleitoral,
Poroshenko era o segundo favorito, atrás de Vitali Klitschko, campeão
peso pesado pelo Conselho Mundial de Boxe. Klitschko, da legenda Aliança
Democrática Ucraniana pela Reforma e herói na luta conta Yanukovich na
Praça Maidan, abriu mão, diga-se, de sua candidatura presidencial para
favorecer Poroshenko. Isso após um encontro em Viena entre ele,
Poroshenko e Dmytro Firtash, o magnata do gás recentemente preso em
Viena pelo FBI. Firtash, diga-se, é um grande lobista russo. “Há muitas
especulações sobre esse encontro e tantos outros nesse país onde
oligarcas são políticos ou fazem política”, diz o cientista político e
jornalista Oleg Varfolomeyev.
“Se legitimiado em todo o país,
inclusive no leste e no sul, Poroshenko trará novas esperanças”, diz o
economista Andriy Novak. As pessoas saberão com quem tratar. Ele é bom
empresário e, portanto, entende de economia. No entanto, “será que seu
objetivo é ser mais rico que Kinat Akhmetov, o oligarca mais rico da
Ucrânia?” Outro obstáculo: “Ele é sincero quando diz que não quer
aumentar os poderes presidenciais?” Desde a Revolução Laranja de 2004,
os poderes do presidente foram reduzidos. De um camaleão espera-se
qualquer coisa.
inclusive no leste e no sul, Poroshenko trará novas esperanças”, diz o
economista Andriy Novak. As pessoas saberão com quem tratar. Ele é bom
empresário e, portanto, entende de economia. No entanto, “será que seu
objetivo é ser mais rico que Kinat Akhmetov, o oligarca mais rico da
Ucrânia?” Outro obstáculo: “Ele é sincero quando diz que não quer
aumentar os poderes presidenciais?” Desde a Revolução Laranja de 2004,
os poderes do presidente foram reduzidos. De um camaleão espera-se
qualquer coisa.
Foto: Sergei Supinski / AFP
Fonte: Carta Capital

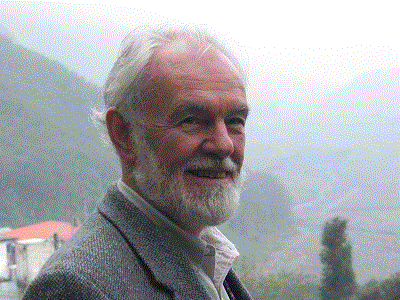






 Passou
Passou
