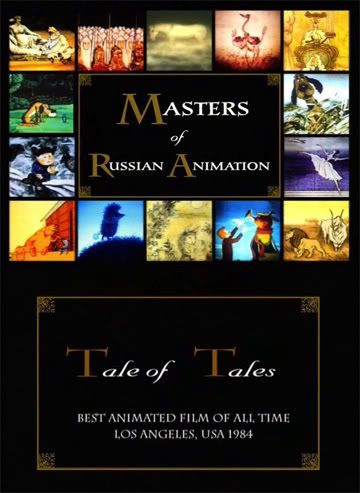“Neste momento, estou completamente sobrecarregado por demandas, mas realmente gostaria de realizar esta entrevista, só que não sei quando poderá ser”, respondeu Noam Chomsky - 79 anos, prolífico autor, lingüista, acadêmico e ativista – na primeira de muitas mensagens trocadas ao longo de seis meses. É o mais citado e, provavelmente, o mais controverso intelectual vivo, segundo Global Intellectuals Poll. Embora os meios de comunicação dominantes lhe neguem espaço, o New York Times garante que Chomsky continue sendo um dos intelectuais vivos mais influentes e mais solicitados por estudantes, universidades, ativistas, simpósios acadêmicos e, inclusive, por líderes mundiais, como o presidente da Venezuela, Hugo Chávez.
Meu primeiro encontro com este ativista, acadêmico, polemista e de má reputação para alguns remonta ao ano 2002, quando fui moderador em uma sessão de perguntas e respostas na qual ele participou, celebrada no meu antigo programa na Universidade da Califórnia (Berkeley). (O encontro seria, posteriormente, incluído no livro Power and Terror: Post 9-11 Talks and Interviews). Antes do programa, tivemos uma longa conversa de uma hora e fiquei impressionado com sua inesgotável memória, sua falta de afetação e o brilhante resumo de dados, nomes e datas que ele utilizou em resposta às minhas intermináveis perguntas. Quando perguntei qual era sua faceta dominante, se acadêmico ou ativista, respondeu que nenhuma das duas de modo exclusivo, e disse que a dissidência sempre tem sido parte dele, desde o primeiro artigo que escreveu, aos dez anos de idade, no qual condenava o triunfo do fascismo durante a Guerra Civil espanhola. Apesar de que a arrogância de muitos intelectuais e acadêmicos só é superada por sua própria insegurança, o que dá como resultado um elitismo frio e egoísta, sempre vi em Chomsky alguém generoso, adaptável e disposto a compartilhar seu tempo e seus conhecimentos.
Assim, não foi surpresa que, depois de seis meses de mensagens eletrônicas, o professor Chomsky pudesse dispor de um pouco de tempo para responder minhas perguntas, segundo suas próprias palavras. Nesta entrevista exclusiva, Chomsky discute acerca da ameaça do Irã, dos paralelismos e diferenças entre Vietnã e Iraque, dos meios de comunicação nos Estados Unidos, de seus críticos e detratores, Paquistão e a negação do título de professor para Norman Finkelstein.
Veja abaixo a entrevista.
Em 1969 o senhor publicou seu primeiro trabalho político de importância, American Power and the New Mandarins (O poder norte-americano e os novos mandarins) uma acerada crítica à intervenção dos Estados Unidos no Vietnã e no Sudeste asiático. Como sabe, muitos estabelecem paralelos entre a atual guerra do Iraque e a do Vietnã. Outros, é claro, rejeitam esta comparação. O senhor, como pessoa com grande experiência no estudo de ambos os momentos, tão significativos historicamente, considera que esse paralelismo é prematuro e ousado? Ou acredita que podem ser estabelecidas semelhanças importantes entre ambas as guerras no que se refere à intervenção norte-americana?
Chomsky: A primeira semelhança guarda relação com o modo de considerar as guerras nos Estados Unidos e no Ocidente em geral. Marginais a parte, as opiniões oscilam entre o que se conhece como falcões e pombas. Em ambos os casos, os falcões garantiam que uma intervenção maior dos Estados Unidos poderia levar à vitória. As pombas, também nos dois casos, participam da opinião expressa por Barack Obama sobre o Iraque (trata-se de uma gafe estratégica, que está saindo cara demais para nós) ou pelo destacado historiador de centro-esquerda e assessor de Kennedy, Arthur Schlesinger, em 1966, quando o Vietnã já aparecia como uma aventura custosa demais para os Estados Unidos. Schlesinger afirmou na época: todos rezamos para que os falcões tenham razão e que um número maior de tropas nos traga a vitória. E, se no fim, resultar que temos razão – dizia – todos elogiaremos a sabedoria e a liderança do governo norte-americano, que conseguiu uma vitória deixando para atrás esse trágico país destripado e devastado pelas bombas, queimado pelo napalm e desertificado pela defoliação química, um país de ruína e escombros, com seu tecido político e institucional totalmente destruído.
Mas Schlesinger não acreditava que a escalada teria sucesso, e sim, pelo contrário, que poderia nos custar caro demais, o que parecia indicar a necessidade de pensar novamente toda a estratégia. A posição das pombas em relação ao Iraque é bastante parecida. Se, por exemplo, o general Petraeus pudesse conseguir algo parecido ao que Putin conseguiu na Chechênia, seria elevado aos altares, com o aplauso das pombas progressistas.
É quase inconcebível, dentro dos rumos estabelecidos da cultura intelectual ocidental, a possibilidade de se fazer uma crítica da guerra baseada em questões de princípio, ou seja, o tipo de crítica que fazemos, reflexiva e adequadamente, quando algum país inimigo comete uma agressão: por exemplo, quando a Rússia invadiu a Checoslováquia, o Afeganistão ou a Chechênia. Não criticamos estas ações por razões de custo, erro, por terem sido uma grande gafe ou por estancamento. Em vez disso, condenamos essas ações como horrendos crimes de guerra, tanto se elas são bem-sucedidas quanto se não.
Em si mesmas, as guerras do Vietnã e do Iraque, contudo, são muito diferentes por seus motivos e caráter. O Vietnã não tinha, por si mesmo, nenhum valor para os Estados Unidos, embora o presidente Eisenhower tenha tentado conseguir apoio para a sua violação dos acordos de paz de Genebra recorrendo aos recursos, de estanho e borracha disponíveis naquele país. Se o Vietnã tivesse desaparecido do mapa, afundado no mar, isso não teria significado grande coisa para os planejadores norte-americanos. O Iraque é uma coisa totalmente diferente. Tem, provavelmente, as segundas maiores reservas petrolíferas do mundo, com a particularidade extra de que são de fácil extração. E, além disso, está exatamente no centro geográfico mundial dos maiores recursos energéticos mundiais, facilmente exploráveis.
No caso do Vietnã, a preocupação consistia em que um desenvolvimento independente e bem-sucedido desse país podia ser um vírus que poderia estender o contágio para outros, se aceitarmos a retórica de Henry Kissinger em relação ao socialismo democrático no Chile. Este raciocínio tem sido o motivo primordial de intervenção militar e de subversão em todo o mundo a partir da II Guerra Mundial, é a versão racional da teoria do dominó. O contágio consiste em que outros que sofrem dos mesmos males possam ver em um desenvolvimento independente e exitoso um modelo, e possam tentar seguir por esta mesma via, o que provocaria a erosão do sistema de dominação. Por isso, até o mais pequeno e débil país representa uma ameaça extrema à ordem.
Os assuntos internacionais são, em grande medida, como os assuntos da máfia: um Padrinho não pode tolerar a desobediência, nem sequer a de um pequeno lojista que se recuse a pagar pela proteção, porque a maçã podre poderia fazer apodrecer o barril inteiro, na terminologia dos planejadores norte-americanos: aqui, a podridão consiste em um desenvolvimento independente exitoso, à margem do controle norte-americano. Temia-se que o Vietnã pudesse infectar seus vizinhos, como a Indonésia, com seus ricos recursos. E que o Japão – que o destacado historiador da Ásia John Dower chamava de superdominó– pudesse acomodar-se a uma Ásia Oriental independente, transformando-se, com isso, em seu centro industrial e tecnológico, tornando realidade a nova ordem que o Japão fascista havia tentado construir pela força durante a II Guerra Mundial. Os Estados Unidos não estavam dispostos a perder a fase do Pacífico da II Guerra Mundial apenas poucos anos depois.
Quando se teme que o contágio possa se estender é preciso destruir o vírus e inocular aqueles que poderiam se infectar. E esta operação foi feita. O Vietnã sofreu uma quase total destruição (assim como toda a Indochina, quando os EUA estenderam sua guerra para o Laos e a Camboja). No fim de 1960, era evidente que nunca poderia ser modelo para ninguém e que a mera sobrevivência seria obra da providência. E a região foi inoculada por meio da imposição de tiranos assassinos: Suharto na Indonésia, Marcos nas Filipinas, etc. O golpe militar de Suharto, em 1965, foi particularmente importante, e foi descrito com toda precisão: o New York Times afirmou que se tratava de um “assassinato massivo horripilante” –e também como “um raio de luz na Ásia”–, em momentos em que o exército do ditador assassinava um número estimado em um milhão de pessoas, em sua maior parte camponeses sem terras; destruía o único partido político popular de massas do país, um partido dos pobres, como foi descrito pelo especialista australiano Harold Crouch, e abria a porta dos ricos recursos do país para sua exploração pelas corporações ocidentais. A euforia nem sequer foi dissimulada. Retrospectivamente, o assessor de segurança nacional de Kennedy e Johnson, McGeorge Bundy, afirmou que os Estados Unidos poderiam ter posto fim à guerra do Vietnã em 1965, depois desta grande vitória da liberdade e da justiça.
Os Estados Unidos conseguiram uma significativa vitória na Indochina, apesar de não terem conseguido seu objetivo máximo: instalar um Estado satélite. Por conseguinte, para a consciência imperial a guerra do Vietnã foi um desastre.
Como já disse, o Iraque é outra coisa. É valioso demais para ser destruído. É fundamental que permaneça sob o controle dos EUA, na medida de tudo o que for possível, em forma de Estado satélite obediente que abrigue importantes bases militares norte-americanas. Sempre foi evidente que este era o objetivo primordial da invasão, mas agora isso não precisa sequer ser discutido. Estes planos foram explicitados pelo governo Bush com sua declaração de novembro de 2007 e por afirmações posteriores, acompanhadas da descarada exigência de que as grandes corporações norte-americanas do petróleo tenham acesso privilegiado às enormes reservas de cru do Iraque.
Parece que o público norte-americano finalmente descobriu, depois de 60 anos, a existência do Paquistão. O general Musharraf é sincero quando afirma querer reconstituir a democracia em seu país? Concretamente, por que os Estados Unidos confiam em Musharraf mais do que em outros rivais potenciais, como Bhutto e Zardari, do PPP, Nawaaz Sharif, etc., em sua guerra contra o terrorismo e sua busca e captura de Bin Laden?
Chomsky: Não devemos perder tempo valorando as intenções de Musharraf de reconstituir a democracia. Os Estados Unidos apoiaram-no tanto tempo quanto possível, do mesmo modo que apoiaram outros tiranos, como Zia ul-Haq. A escolha de um determinado aliado é feita seguindo um critério muito simples: trata-se de buscar o satélite mais leal, aquele que mais nos garanta que vai obedecer ordens. Apesar de alguma exceção ocasional, a uniformidade é impressionante.
Recentemente, um relatório dos serviços secretos dos EUA afirmava que o Irã tinha finalizado com sucesso um programa de armas nucleares há quatro anos. O Irã afirma que, na verdade, nunca teve um programa deste tipo. Contudo, o presidente Bush, o presidente israelense Olmert e altos cargos de Washington garantem que o Irã continua sendo uma grande ameaça e que persegue a obtenção de armas nucleares. São sustentáveis estas opiniões dos EUA e Israel? E se não são, qual é a razão da retórica de enfrentamento com o Irã, e de que modo favorece a política exterior dos EUA na região do Oriente Próximo?
Chomsky: Estas afirmações deveriam ser avaliadas pela Agência Internacional de Energia Atômica. Eu, é claro, não tenho nenhum conhecimento especial. Não seria tão surpreendente que descobrissem que o Irã tem algum tipo de programa de armas nucleares, junto, talvez, com planos de emergência. As razões foram expostas por um dos mais importantes historiadores de Israel, Martin van Creveld, quando disse que o Irã estaria completamente louco se não desenvolvesse uma arma de dissuasão nuclear nas atuais circunstâncias: com as forças hostis de uma superpotência violenta em duas de suas fronteiras e uma potência regional hostil (Israel) que dispõe de centenas de armas nucleares clamando por uma mudança de regime no Irã. Contudo, as provas disponíveis indicam que se esse país já teve um programa assim, ele foi encerrado há alguns anos.
Da perspectiva norte-americana, o Irã cometeu um grave crime em 1979. Como é sabido, em 1953, os Estados Unidos e o Reino Unido desmantelaram a democracia parlamentar iraniana e instalaram um brutal tirano, o Xá, que foi um baluarte do controle norte-americano na rica região petrolífera até 1979, quando foi deposto após um levantamento popular. Tratava-se de um caso bastante parecido ao da derrocada do ditador Batista em Cuba, em 1959, e de outros atos de desafio exitoso aos princípios de Washington, segundo o termo cunhado em seus documentos internos. O Padrinho não pode tolerar um desafio exitoso. É uma ameaça grande demais ao que chamam de estabilidade, ou seja, à obediência aos senhores.
A independência iraniana não é um problema menor. Ameaça o controle norte-americano de um dos butins mais valiosos do mundo, o petróleo do Oriente Próximo. Como conseqüência, desde 1979 os Estados Unidos têm sido duramente hostis com o Irã. Washington respaldou o feroz e mortífero ataque de Sadam Hussein contra o Irã e, inclusive, uma vez terminada a guerra continuou apoiando esse aliado até o ponto de convidar engenheiros nucleares iraquianos para receberem formação avançada para o desenvolvimento de armas nucleares, em 1989. Mais tarde, promulgou graves sanções contra o Irã, ao mesmo tempo que lançava freqüentes ameaças de atacar esse país e derrocar seu governo.
E assim até hoje. Atualmente, 15 de junho de 2008, a agência de notícias Reuters informa o seguinte: “Os analistas estimam que se forem oferecidas ao Irã garantias de segurança –uma idéia lançada pela Rússia– seria possível sair do ponto morto atual, considerando que estas garantias constituem o objetivo fundamental do Irã, dada a política de Bush de mudança de regime referente a esse país. Mas os Estados Unidos afirmaram, no mês passado, que as grandes potências não tinham planos de compromisso em matéria de segurança com Teerã.”
Em poucas palavras, os EUA insistem em manter sua atitude de Estado fora da lei, rejeitando os princípios fundamentais do Direito Internacional, entre outros a Carta das Nações Unidas, que proíbe o uso da força nos assuntos internacionais. Bush conta com o apoio dos dois principais candidatos presidenciais de 2008 e com o das elites dos EUA e da Europa, ainda que não com o da opinião pública norte-americana, que apóia com grande margem a diplomacia e opõe-se às ameaças de guerra. Mas a opinião pública é, em grande medida, irrelevante na hora de elaborar as políticas, e não apenas neste caso.
A classe política, em toda sua amplitude e com raras exceções, está comprometida com a manutenção do controle norte-americano dos principais recursos energéticos do mundo, e com o castigo dos desafios exitosos. Por conseguinte, os EUA têm feito grandes esforços para mobilizar uma aliança contra o Irã entre os Estados sunitas da região, embora sem muito sucesso. As duas viagens de Bush para a Arábia Saudita, no início de 2008, foram, neste sentido, fracassos sem paliativos.
A imprensa saudita, normalmente muito comedida com os visitantes importantes, condenou as políticas propostas por Bush e pela secretária de Estado, Condoleezza Rice, como “não uma diplomacia em busca da paz, mas uma loucura em busca da guerra.” As monarquias do Golfo Pérsico não são amigas do Irã, mas aparentemente preferem acomodar-se e não entrar em confronto, o que constitui um duro golpe para as políticas norte-americanas. Washington está diante de problemas similares no Iraque e no Líbano. Em um segundo plano, existe uma preocupação mais profunda: que os países produtores de energia da região possam voltar-se para o Leste e, inclusive, que sigam o exemplo do Irã de estabelecer vínculos com a Organização de Cooperação de Shanghai (1), na qual a Índia, Paquistão e Irã participam como observadores, participação que foi negada a Washington.
O conflito entre sunitas e xiitas tem se agravado sensivelmente nestes últimos anos, especialmente no Iraque, devido à crescente insurgência e à guerra civil desatada pela queda de Sadam Hussein e o vazio de poder que seguiu. O senhor acha que esse conflito sunita-xiita pode se estender para todo o Oriente Próximo. Em caso afirmativo, como isso ocorreria, especialmente em países como Iraque, Irã e Líbano e em relação à guerra contra o terrorismo? Vamos testemunhar mais atos terroristas, mais extremismo e mais antiamericanismo, ou será que este “divide e vencerás” pode ajudar as forças norte-americanas e as políticas estrangeiras a pacificarem a região?
Chomsky: Segundo estudos sobre a opinião pública iraquiana, realizados pelo Pentágono, os conflitos sectários do Iraque não foram causados “pela queda de Sadam Hussein e o vazio de poder que seguiu”, senão pela agressão norte-americana. Se você me permite citar o resumo, publicado pelo Washington Post, dos documentos do Pentágono publicados em dezembro de 2007, ele afirma: “Iraquianos de todos os grupos sectários e étnicos acreditam que a invasão militar norte-americana é a raiz primordial das violentas diferenças entre eles e consideram que a saída das forças de ocupação é fundamental para a reconciliação nacional.”
Como eu já disse, os Estados Unidos não tiveram muito sucesso em sua inspiração de um conflito regional entre sunitas e xiitas, mesmo que as tensões entre eles sejam bem reais e inquietantes. A invasão do Iraque potencializou os atos de terrorismo muito mais do que teria sido possível pensar de antemão, ao ponto de que algumas estimativas, como as realizadas pelos especialistas em terrorismo Peter Bergen e Paul Cruickshank após a análise de cifras semi-oficiais, chegam a considerar que se multiplicaram por sete. O que vai acontecer a seguir depende, em larga medida, de quais sejam as políticas norte-americanas, apesar de que também há muitos fatores internos próprios desta complexa região.
No dia 20 de setembro de 2006, o presidente venezuelano, Hugo Chávez, promoveu seu livro Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance (2) na Assembléia Geral das Nações Unidas, e elogiou o senhor por demostrar que o maior perigo para a paz mundial, nestes momentos, são os Estados Unidos. Imediatamente, houve um grande alvoroço nos meios de comunicação. O senhor, por sua vez, recusou os pedidos de entrevistas porque, na sua opinião, os entrevistadores nem sequer haviam se incomodado em ler o livro e discutir seu conteúdo e estavam, em vez disso, à procura de sensacionalismo. Existe nos meios de comunicação norte-americanos um lugar para o jornalismo informativo e educativo e para a informação contrastada que não esteja tingida de sensacionalismo ou retórica promocional? O surgimento da Internet –os blogs, YouTube, os webzines, etc.– permite contrabalançar o que o senhor tem chamado de fabricação do consenso, consistente em que organismos poderosos, como as grandes corporações e o governo norte-americano, forneçam à mídia e ao público informação preparada, propaganda e meias-verdades adequadas?
Chomsky: Se eu tivesse que me limitar a um único jornal, escolheria o New York Times, apesar de já ter escrito centenas de páginas nas quais documento em detalhe suas falsas representações, distorções e cruciais omissões à serviço do poder. E faria essa escolha por sua importância e recursos superiores aos demais. Aprende-se muito com uma leitura atenta e crítica dos meios de comunicação dominantes, apesar de que existem outras fontes também valiosas. A Internet permite ter acesso a uma grande variedade de informação, opinião e interpretação. Mas, como qualquer outra fonte, é útil só com a condição de que seja utilizada de um modo discriminado e reflexivo. Os melhores biólogos não são aqueles que leram mais publicações técnicas de seu âmbito, mas aqueles que dispõem de um marco de compreensão que lhes permite selecionar o que pode ser significativo, mesmo que de resto um determinado documento tenha pouco valor. Este mesmo tipo de discernimento é necessário no estudo dos assuntos humanos.
Seus críticos –e há muitos deles– afirmam que sua retórica e ideologia parece um disco riscado: uma interminável ladainha e um monte de ataques repetitivos à política exterior norte-americana e às suas ações militares. Como o senhor responde aos críticos que afirmam que sua descrição da política exterior dos EUA é simplista e cínica? Os Estados Unidos são, realmente, um império do mal? Não existem casos em que a intervenção norte-americana ou a ajuda desse país tenha respondido a critérios altruístas, seguindo os ideais da Constituição?
Chomsky: Este tipo de crítica de que você fala tem sido feita aos dissidentes de quase todas as sociedades na história da Humanidade, ou seja, não se deve dar a mínima para elas. Se os críticos têm argumentos e provas, vou estudá-los com prazer, neste âmbito assim como em qualquer outro. Quando o único que há são crises de birra do tipo que você menciona, podemos descartá-las como novos exemplos daquilo que o criador da teoria das relações internacionais realistas, Hans Morgenthau, chamou “nossa conformista obediência àqueles que têm o poder”, referindo-se aos intelectuais norte-americanos –e aos ocidentais em geral–, apesar das eventuais excepções. Eu não respondo a estas acusações de que descrevo os Estados Unidos como um império do mal, porque esta acusação é uma montagem infantil feita por apologistas desesperados do poder estatal.
De fato, costumo insistir em que os Estados Unidos são como qualquer outro sistema de poder. É verdade que esta afirmação é intolerável para nossos nacionalistas, que insistem no excepcionalismo dos EUA, assim como é para os líderes políticos e as classes intelectuais em outros Estados poderosos, passados e presentes, com muita freqüência. Quanto ao caráter genuinamente altruísta das nossas intervenções, é difícil encontrar exemplos no passado, tal como a pesquisa histórica demonstra, mesmo que, é claro, cada intervenção seja apresentada como altruísta por parte de seus perpetradores, por mais monstruosas que sejam. A imagem é mais ambígua no que se refere à ajuda, mas não muito diferente quando observamos em detalhe, e se ajusta também a um universal histórico, como eu tenho dito.
Na sua opinião, o veto que a Universidade DePaul impôs à nomeação do professor Norman Finkelstein, devido à sua mordaz crítica e refutação do livro de Alan Dershowitz, ''Case for Israel'' é indicativa do clima de probidade e integridade intelectual nos Estados Unidos? Será que é um aviso aos acadêmicos e intelectuais que não se ajustam às consignas e questionam abertamente a ideologia que defendem os poderosos grupos de interesses e os lobbies? Ou será que é só um incidente isolado, que não tem outras implicações em relação ao ambiente intelectual pós 11 de setembro?
Chomsky: O comportamento da Universidade DePaul ao rejeitar a recomendação dos professores para a nomeação de Finkelstein foi, sem dúvida, deplorável, mas este caso não pode ser generalizado. Tem características específicas, especialmente o papel do desesperado e fanático professor da Faculdade de Direito de Harvard, Alan Dershowitz. Finkelstein demonstrou com impecável rigor acadêmico que Dershowitz é um difamador, um mentiroso e um vulgar apologista dos crimes do Estado que defende. Em um primeiro momento, Dershowitz removeu céu e terra para impedir a publicação do escrito de Finkelstein; após fracassar nisso, lançou uma cruzada histérica para tentar suprimir seu conteúdo. Não é um idiota e sabe que não pode responder em termos de fatos e argumentos, ou seja que recorreu àquilo que é habitual nele: uma seqüência de ataques e insultos e uma extraordinária campanha de intimidação, à qual, finalmente, sucumbiu a direção da Universidade, aparentemente por temor a uma eventual mobilização de seus patrocinadores.
Esta depravada atuação tem sido analisada com muito detalhe em publicações apropriadas, como Chronicle of Higher Education , e não vou me estender mais aqui.
É verdade que há iniciativas importantes para impedir um debate honesto e independente dos assuntos do Oriente Próximo, especialmente os relativos a Israel. Não obstante, este é um caso especial, que não tem nenhuma relação com o ambiente intelectual posterior ao 11 de setembro.
* Wajahat Ali é cidadão paquistanês e norte-americano, muçulmano, autor teatral, ensaísta, humorista e advogado, cuja obra The Domestic Crusaders (Os cruzados do interior) é a primeira obra teatral que trata dos muçulmanos norte-americanos no período posterior ao 11 de Setembro.
Notas:
(1) A Organização de Cooperação de Shanghai (OCS) é um organismo intergovernamental fundado em 14 de Junho de 2001 pela R.P. da China, Rússia, Kazaquistão, Kirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão, dedicado a assuntos de cooperação econômica, cultural e de segurança. (N. do T.)
(2) Hegemonia ou sobrevivência : Estats Units a la recerca do domini global, Editorial Empuries, 2004 (em catalão); Hegemonia ou sobrevivência: a estratégia imperialista dos Estados Unidos, Edições B, 2005 (em espanhol).
Tradução para o espanhol para Rebelión por S. Seguí
Tradução para o português: Naila Freitas/Verso Tradutores