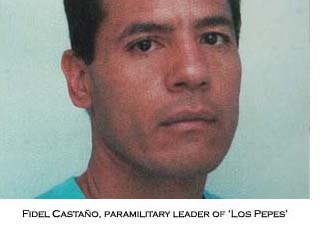No início da segunda etapa da crise global
A corte de admiradores do capitalismo global, que ao longo dos últimos anos nos encheu com suas reiterações sobre a solidez do sistema, hoje está em pleno recuo tático; seus integrantes já não negam a crise, mas tentam diminuir seu caráter dramático e reduzir suas raízes e extensão. A análise é do economista argentino, Jorge Benstein.
Jorge Beinstein
A recessão já se instalou no centro do Império; agora, o debate gira em torno da sua profundidade, duração e alcance mundial. A corte de admiradores de direita ou progressistas do capitalismo global, que ao longo dos últimos anos nos encheu com suas reiterações sobre a solidez do sistema, hoje está em pleno recuo tático; seus integrantes já não negam a crise, mas tentam diminuir seu caráter dramático e reduzir suas raízes e extensão. Alguns deles ensaiam explicações anedóticas, outros dizem tratar-se de uma "crise cíclica" —que é o mesmo que dizer passageira— e a maior parte deles refugia-se na explicação simplista que reduz o fenômeno a uma grande perturbação financeira combinada com um surto pessimista dos consumidores norte-americanos, provocado pelos devedores inadimplentes dos Estados Unidos (aqueles que não pagam seus créditos imobiliários) e por aqueles que deram a eles empréstimos generosos demais.
Segundo esse pessoal, os problemas serão superados em breve, graças às intervenções da Reserva Federal, da Casa Branca e das autoridades políticas e monetárias das outras grandes potências. O mítico estandarte do poder invencível dos amos do sistema ainda flameja nas alturas, mesmo que esteja ficando esfiapado rapidamente, no ritmo das trovoadas globais.
Crédito, consumo e dívidas
Uma vez que a crise está circunscrita ao estouro da "bolha imobiliária" norte-americana e aos seus impactos colaterais nos Estados Unidos e no resto do mundo, a "solução" parece clara: estimular os consumidores e investidores, aumentar o gasto público e injetar liqüidez no mercado.
É isso que estão fazendo agora o governo Bush e a Reserva Federal: o presidente acabou de promover uma redução de impostos e um gasto público recorde para 2009 — que chega a mais de 3 trilhões de dólares — e que, portanto, vai gerar um déficit fiscal gigantesco; ou seja, que a dívida pública logo vai superar os 10 trilhões de dólares. É claro que Bush faz tudo isso sempre a partir da direita: as reduções fiscais beneficiam basicamente os ricos e a classe média alta, o aumento do gasto público vai privilegiar as Forças Armadas, que terão o maior orçamento de toda a história dos EUA: o gasto militar total dos Estados Unidos chegou, em 2008, a quase 1,2 trilhões de dólares (se somamos as verbas do Departamento de Defesa e as dos outros setores do Estado), segundo o projeto de orçamento enviado ao Parlamento por Bush, em 2009 essa cifra será muito mais alta. Por sua vez, a Reserva Federal reduz ainda mais a taxa de juros.
O que eles estão fazendo agora é uma espécie de repetição, em condições infinitamente mais graves, do que já fizeram em 2001. Eles não têm nenhum roteiro diferente. Só que naquela época a dívida pública norte-americana chegava a 5,7 trilhões de dólares e agora está muito próxima de 9,2 trilhões e se somarmos a isso o resto do endividamento dos setores públicos e privados chegaremos aos 50 trilhões de dólares (equivalente ao Produto Bruto Mundial). E ainda é preciso acrescentar a acumulação de déficit fiscais e comerciais e um volume de gastos militares totais que em 2009 poderia chegar a representar 10% do PIB norte-americano.
Em 2001 a situação era difícil, mas havia margens econômicas e políticas que permitiram que o Poder (mediante auto-atentado terrorista) saísse da recessão acelerando as tendências dominantes do sistema: hipertrofia especulativa, concentração de renda, consumismo (com forte queda da poupança pessoal), crescimento das dívidas públicas e privadas e keynesianismo militar. Todos esses aspectos foram ficando exarcebados ao extremo nos últimos sete anos, as aventuras coloniais na área euro-asiática terminaram num impasse (o aparato militar aparece agora como uma pesada máquina, tão sofisticada e cara quanto incompetente) enquanto o Estado e a população estão afogados em dívidas.
A recessão norte-americana é mais uma crise de dívida do que uma depressão causada pela retração do consumo; a primeira é o fundamento da segunda. A super dívida estatal chegou a um ponto tal que sua expansão entrou no círculo vicioso que entrelaça de modo perverso as emissões de título públicos e os dólares cada vez mais desvalorizados, a alternativa estaria em que o Estado reduzisse seus gastos e/ou aumentasse a arrecadação fiscal, o que poderia afundar a economia em uma recessão ainda mais profunda.
Por sua vez, a população de média e baixa renda tem sofrido as conseqüências do congelamento (e para um importante setor, até a queda) dos seus salários reais, a renda familiar média é, atualmente, menor que no ano 2000. Quando a "bolha imobiliária" começou a se formar, com uma avalanche de créditos baratos, ao mesmo tempo se estava restringindo a solvência a médio prazo de uma grande massa de devedores e a serpente neoliberal acabou mordendo o próprio rabo: em meados de 2006 o mercado imobiliário estava saturado, os preços de imóveis começaram a cair e, em 2007, explodiu a inadimplência. O que veio a seguir é bem conhecido.
Nos anos em que estava no auge, o tema do iminente esgotamento do crescimento da economia norte-americana, sobrecarregada por dívidas, foi abertamente ignorado ou negado por jornalistas, especialistas, grandes empresários e dirigentes políticos dessa superpotência. Os negócios iam bem e quem teria ousado, nesse período, dizer que os grandes lucros da época seriam a base de um próximo desastre? Os poucos que ousaram foram marginalizados e ridicularizados, apontados como catastrofistas, pessoas amargas ou amantes dos terremotos.
Mas se a direita pretende fazer mais da mesma coisa, os progressistas imperais não vão muito mais longe. Joseph Stiglitz, uma das vozes desse setor, acabou de propor uma variação “popular” do remédio, também orientada para a reabilitação do consumo aumentando o gasto público e, consequentemente, o déficit fiscal e a dívida. Segundo essa proposta, os beneficiários não seriam os militares e os ricos, mas os desempregados, os programas de desenvolvimento de infra-estrutura, do setor educacional, da saúde, de economia de energia e de redução da contaminação ambiental. A aspirina progressista (incompatível com o atual sistema de poder dos EUA) e a repetição conservadora não passam de pequenos band-aids impotentes diante de uma realidade desbordante.
Recessão e inflação
Agora que a recessão chegou ao centro da economia mundial, suas autoridades entram em pânico, percebem que suas ações são ineficazes ou, inclusive, contraproducentes. As medidas anti-recessão, como os cortes fiscais que estão em curso, as drásticas quedas nas taxas de juro ou o aumento do gasto público, certamente trarão mais déficit e dívidas e, caso cheguem a ter algum sucesso, mesmo que seja medíocre, trarão um aumento da inflação. Em ambos os casos, darão impulso à desvalorização internacional do dólar. A recessão e a inflação chegam juntas porque a crise financeira converge com a crise energética que faz subir o preço do petróleo, puxando para cima um amplo leque de matérias-primas. Os custos de produção aumentam não só quando a economia mundial cresce, fazendo aumentar a demanda por esses produtos, mas também quando ela fica parada, ou mesmo quando sofre quedas. Isso ocorre porque a extração de petróleo no mundo está chegando ao seu nível máximo e, logo atrás dela, as de outros recursos energéticos não renováveis, como o carvão e o urânio, que seguirão o mesmo caminho a mais longo prazo, mas bem antes de meados do século XXI. E, como já sabemos, a substituição do petróleo pelos biocombustíveis leva a um rápido encarecimento generalizado da produção agrícola, especialmente de alimentos.
Em síntese, as autoridades norte-americanas sabem que se tentarem reverter a recessão reanimando o mercado estarão dando fôlego à inflação e à queda do dólar, o que, cedo ou tarde, trará mais recessão; mas também sabem que se tentarem conter a inflação esfriando a economia, a recessão vai se aprofundar: um beco sem saída.
Alguns especialistas, por enquanto discretos, começam a alimentar ilusões com a possibilidade de uma paralisação prolongada mas ordenada, sem explosões sociais nem crises institucionais graves. O modelo para isto seria o Japão dos anos 1990, mas eles esquecem que se tratava de uma potência de segunda ordem que contou, nesse momento, com duas tábuas de salvação externas que ajudaram a suavizar a aterrissagem: em primeiro lugar, as "bolhas" de prosperidade do leste da Ásia, que deram fôlego ao Japão até a crise de 1997, e, principalmente, os Estados Unidos, seu principal cliente comercial, cujo mercado absorveu exportações e investimentos japoneses. Mas os Estados Unidos é um país grande demais, não existe uma tábua de salvação externa à sua medida. O resto do mundo vinha amortecendo seus desajustes fiscais e comerciais, acumulando montanhas de papeis dolarizados que a cada dia valem menos, mas essa capacidade está quase esgotada.
A ilusão do descolamento
Na última reunião de Davos houve muita discussão em torno do possível "descolamento" entre os Estados Unidos e as outras potências industriais que, deste modo, ficariam distanciadas do naufrágio do seu irmão maior.
Até hoje, a globalização era apresentada pela propaganda neoliberal como uma rede da qual ninguém podia escapar. Agora, sem maiores explicações, dizem o contrário: pelo visto, a rede global permite que uma ampla variedade de países fujam do desastre. Dirigentes e comunicadores de algumas economias desenvolvidas incluem seus países na lista de sobreviventes e inclusive em muitos países periféricos as mídias locais tentam tranqüilizar suas populações explicando que, graças ao nível das suas reservas (em dólares), à natureza das suas exportações, à sua localização geográfica ou a outra benção do destino, essa nação não será afetada pela recessão norte-americana (ou será muito pouco).
Mas acontece que — para desgraça dos neoliberais— os neoliberais tinham razão: as interdependências econômicas mundiais são tão densas que, como estamos comprovando todos os dias, não há maneira de "descolar" as sacudidas norte-americanas (bancárias, da bolsa, etc.) do funcionamento financeiro internacional. A "bolha imobiliária" norte-americana foi a vanguarda de uma variada série de outras bolhas parecidas em diversos lugares do planeta, países como Espanha, Inglaterra, Holanda, Austrália, Irlanda e Nova Zelândia fizeram parte ativa desta festa. Na Espanha, a bolha já começou a murchar: recentemente, Carlos March, cabeça de um dos grupos financeiros decisivos desse país, declarou que “a crise imobiliária (espanhola) vai durar muito tempo, pelo menos três anos". Por outro lado, numerosos bancos europeus e asiáticos estão sendo atingidos pela desvalorização de títulos norte-americanos atrelados a dívidas hipotecárias de alto risco, que compraram por atacado em pleno auge especulativo. A recessão norte-americana já afeta o Japão, intimamente associado à superpotência nos níveis comercial, financeiro, político-militar, etc. O Japão e os EUA compram o grosso das exportações industriais da China e são a coluna vertebral da sua prosperidade econômica, a qual, por outro lado, acumula mais de 1,4 trilhões de dólares e papéis dolarizados em suas reservas e também tem suas próprias bolhas (da bolsa, imobiliária, etc.).
Muito mais fortes são as inter-relações entre a União Européia e os Estados Unidos... o que não impediu o presidente do Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, de declarar (no início de fevereiro de 2008 e sem mexer um só músculo da cara) que “na Europa não há risco de recessão, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos”.
* Economista argentino, professor na Universidade de Buenos Aires. É autor, entre outros livros, de "Capitalismo senil, a grande crise da economia global".
Tradução: Naila Freitas / Verso Tradutores



 The.Bubble.2006.Israel.DVDRIP.XVID.Freedom.Black_Metal-Yakuza.avi (690.02 Mb)
The.Bubble.2006.Israel.DVDRIP.XVID.Freedom.Black_Metal-Yakuza.avi (690.02 Mb) buah.ha._2006_.pob.1cd._3122208_.zip ( 36.34KB ) legendas
buah.ha._2006_.pob.1cd._3122208_.zip ( 36.34KB ) legendas