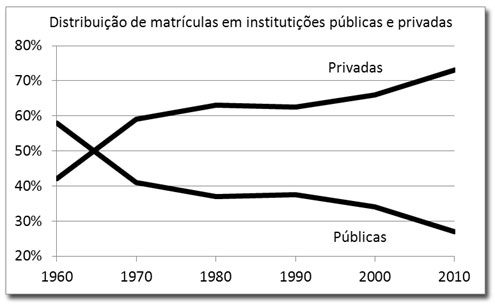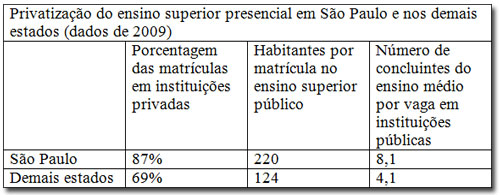O modo de produção capitalista tem como característica essencial a
extração da mais-valia, ou seja, a exploração dos trabalhadores. Essa
exploração ocorre devido ao fato de os trabalhadores encontrarem-se
despossuídos dos meios de produção. Seu trabalho e sua produção
encontram-se fora do seu domínio. O produtor direto está alienado das
condições de produção e reprodução da sociedade, dominado pelas forças
sociais que ele mesmo criou. O fetichismo da mercadoria ou a reificação
das relações sociais dominam o ser e a consciência tanto dos
trabalhadores como dos burgueses. É desse ocultamento das relações
sociais por trás da produção de mercadorias e de valor, processo que
aparece como eterno e natural, é dessas fantasmagorias que tira a sua
força a ideologia burguesa que, domina as mentes dos indivíduos sob o
capitalismo.[1]
O capital, portanto, tira sua força da exploração do trabalho da classe trabalhadora. O trabalhador produz o valor necessário para pagar a sua reprodução, o seu salário, e além disso produz um valor não pago, que é a apropriado pelo capitalista, a mais-valia. E é com a apropriação da mais-valia, do trabalho não pago, que o capital se expande e se acumula de forma intensa e permanente até encontrar seu limite imposto por suas próprias contradições. E essas contradições, como veremos adiante, são as responsáveis pelas crises do capitalismo.
A acumulação do capital, sua razão de ser, encontra-se determinado pela teoria do valor-trabalho. É esta lei que explica as características essenciais do modo de produção capitalista. Tendo sido elaborado pela economia política clássica, por Smith e por Ricardo, foi somente com Marx que esta teoria alcançou sua plenitude teórica e prática. Foi a partir da teoria do valor-trabalho que Marx desvendou os mistérios da produção da riqueza do capitalismo. Ao descobrir que é o trabalho, ou mais precisamente, o tempo de trabalho socialmente necessário que produz o valor e a mais-valia, Marx ultrapassou os limites da economia clássica e descobriu o motor da riqueza capitalista, e os limites também do modo de produção capitalista.
Com a teoria do valor trabalho e seu corolário, a expropriação da mais-valia, Marx atingiu o coração do sistema do capital, o seu conteúdo, injusto e desumano.[2] E mais, ele vislumbrou seus limites históricos e sua superação dialética por um modo de produção superior, racional e verdadeiramente humano.
Por ser uma “contradição viva”, como afirmava Marx, o sistema do capital teve a sua história marcada por auges e depressões, fluxos e refluxos, expansões e crises, continuidades e rupturas. Nenhum modo de produção teve tantas contradições como o sistema do capital. Nenhum foi também tão revolucionário e conservador ao mesmo tempo, estável e instável no seu movimento de expansão mundial.
O movimento do capital é insaciável.[3] Sua acumulação, seu moto contínuo, é determinado pela taxa de lucro, que por sua vez é determinada pela taxa de mais-valia. E a taxa de mais-valia, assim como a taxa de lucro, dependem da composição orgânica do capital: c/v. Como o capital investe cada vez mais nos meios de produção, ou no capital constante, proporcionalmente do que em trabalhadores, ou o capital variável, a tendência é que a composição orgânica aumente, devido o crescimento da proporção do capital constante.
Como a mais-valia é criada pela parte variável do capital, com a sua queda, a tendência é de que caia também a taxa de mais-valia. Caindo a taxa de mais-valia ocorre também a tendência da queda da taxa de lucro. E como resultado destas tendências temos a diminuição ou a interrupção do processo de acumulação. Na verdade é um processo que se auto-alimenta, acumulação e queda da taxa de lucro são movimentos concomitantes, que influenciam e determinam um ao outro. Marx explica este processo:
“Queda da taxa de lucro e acumulação acelerada são apenas aspectos diferentes do mesmo processo, no sentido de que ambas expressam o desenvolvimento da produtividade. A acumulação acelera a queda da taxa de lucro, na medida em que acarreta a concentração dos trabalhos em grande escala e com isso composição mais alta do capital. A queda da taxa de lucro por sua vez acelera a concentração do capital e sua centralização, expropriando-se os capitalistas menores, tomando-se dos produtores diretos remanescentes o que ainda exista para expropriar. Assim, acelera-se a acumulação, em seu volume, embora sua taxa diminua com a queda da taxa de lucro”.[4]
Temos, portanto, no capitalismo, um desenvolvimento que desemboca sempre em crises, a interrupção da produção da mais-valia, ou seja, da acumulação. Isto quer dizer que a lógica da acumulação do capital o leva sempre a entrar em crises. E essas crises se tornam cíclicas e, com o tempo, cada vez mais profundas, ameaçando todo o modo de produção capitalista com a possibilidade de seu colapso e de sua superação. Marx explica melhor a razão dessas crises:
“No
modo capitalista de produção, relativamente à população, desenvolve-se
em demasia a produtividade, e, embora sem atingir a mesma proporção,
aumentam os valores-capital (e não só o substrato material desses
valores) de maneira mais rápida, que a população. Os dois fatos colidem
com a base - que, em relação à riqueza crescente, é cada vez mais
estreita, e para a qual opera essa produtividade imensa – e com as
condições de valorização do capital que se expande. Daí as crises”.[5]
Podemos perceber que o desenvolvimento da produtividade do capital leva à queda da taxa de lucro, criando uma superprodução de capital que não consegue se realizar. Eis a contradição viva e seu desfecho final, o colapso, seja ele agudo ou crônico, como veremos adiante. O que vale salientar é que o capital tem limites para sua expansão e que esses limites indicam para o seu esgotamento e o seu fim.
Mas o capital cria contra-tendências para evitar a queda da taxa de lucro, a super produção e as crises. Essas contra-tendências são: 1) aumento do grau de exploração do trabalho; 2) redução dos salários; 3) baixa de preço dos elementos do capital; 4) superpopulação relativa; 5) comercio exterior e 6) aumento do capital em ações.
Ao utilizar esses mecanismos o capital conseguiu superar suas graves crises ao longo do século XIX. Isto foi possível até a grande crise do inicio do século XX, o crack de 1929. A partir desta crise o capital precisou criar mais um mecanismo para se salvar de seu colapso. Esse mecanismo foi a adoção das chamadas políticas keynesianas de intervenção do Estado na economia para garantir a continuidade do processo de acumulação do capital. Essa intervenção se deu principalmente através do gato públicos em obras de infra-estrutura, em gastos militares, no chamado complexo industrial-militar.
É a partir do final da Segunda Grande Guerra que o capital passa a adotar as políticas keynesianas com o objetivo de regular o capitalismo, evitando as crises e o colapso. A adoção dessas políticas keinesianas e o medo da ameaça do avanço da revolução socialista no mundo todo levam o capital a criar o que ficou conhecido como o Estado do Bem-Estar Social (Welfare State).
As origens do Welfare State remontam ao final do século XIX. O governo de Bismarck, na Alemanha foi um dos primeiros a utilizá-lo. Na sua origem o Welfare State surge como uma resposta dada pelo capital para frear o ímpeto revolucionário da classe trabalhadora européia.[6] Mas o Estado do Bem-Estar Social só se torna hegemônico no capitalismo depois da Segunda Guerra Mundial. Esse Estado tem como substancia a seguridade social, que garante uma serie de garantias políticas, sociais e econômicas para os trabalhadores. Entre elas estão as conquistas concernentes ao financiamento público consagradas ao ensino, aos serviços de saúde, às pensões e à indenização do emprego.
Vale ressaltar que essas conquistas são resultados da luta operária e do medo da ameaça da revolução socialista. Alem disso o Welfare State garante a estabilidade da acumulação capitalista, pelo menos entre 1945 e 1968, mais ou menos, período que fica conhecido como os “Anos Gloriosos” do capitalismo do século XX. Cabe ressalvar, no entanto, que esta experiência política-econômica, que permitiu uma significativa melhoria do nível de vida dos trabalhadores, ficou restrita aos países do chamado 1º mundo, excluindo, por isso, a maioria da humanidade.
Mas este período de prosperidade ininterrupta, principalmente para o capital, durou pouco e no final da década de sessenta entra em crise, demonstrando mais uma vez as limitações do sistema capitalista. Mas a crise do Welfare State reflete apenas a crise do capital, dessa vez numa dimensão estrutural. Os ideólogos neoliberais, entretanto, atribuem a crise do Estado do Bem-Estar ao fracasso das políticas econômicas de cariz keynesiana e à intervenção do Estado na economia. Como solução para esta crise, que é ao mesmo tempo de estagnação e de inflação, eles defendem as velhas receitas liberais, agora chamadas de neo, quer dizer, que somente o mercado regule a organização econômica da sociedade, como sua benevolente “mão invisível”. Os neoliberais, agora de volta a moda, atacam a intervenção estatal e recomendam a cartilha rezada pelos “Deus” mercado como solução para a crise econômica.
Esses economistas neoliberais, entretanto, só ficam na superfície do problema, aliás, como manda a tradição apologética. Acontece que a crise econômica e a crise do Welfare State são apenas a aparência do fenômeno, a sua manifestação mais visível. A essência desse fenômeno, ou seja, a causa da crise do Welfare State e de toda a economia capitalista desenvolvida, deve ser encontrada na própria crise da acumulação capitalista. E a crise de acumulação se deve, como já vimos, a lei da queda tendencial da taxa de lucro.
Desenvolvendo mais um pouco, é uma crise da acumulação da mais-valia mundial. Não passa da confirmação da lógica contraditória da produção e da reprodução capitalista. E o Estado neste novo contexto deixa de impedir a crise do capital. Deste modo o capital vai retomar as velhas formas para superar a queda tendencial da taxa de lucro desfazendo neste processo as conquistas trabalhistas do período dos “Anos Gloriosos”. Isto não acontece sem a resistência dos trabalhadores e neste mesmo período, final dos anos 1960, o mundo se encontra abalado por greves e revoltas de trabalhadores e estudantes que questionam a lógica exploradora do capital e sua ideologia individualista e consumista propagada pela forma keynesiana de organização política e socioeconômica. Podemos dizer que o capital é questionado em sua base sociometabólica. Infelizmente os trabalhadores perdem mais essa batalha para o capital e são obrigados a aceitar a imposição das políticas econômicas neoliberais.
A partir do inicio da década de 1970, o sistema do capital entra numa crise estrutural. Diferentemente das outras crises, onde o capital conseguia superar as crises expandindo sua acumulação para regiões inexploradas do planeta, agora ela o afeta em sua totalidade. É uma crise que atinge o capital já plenamente amadurecido, quer dizer, plenamente mundializado. Outra particularidade desta crise é que devido ao intenso desenvolvimento da técnica e da ciência aplicadas à produção, o capital variável passa a diminuir sua parte na composição orgânica do capital. O aumento descomunal da produtividade tende a solapar a base de acumulação do capital. A criação do valor e da mais-valia ficam seriamente comprometida. Neste sentido a razão de ser do capitalismo passa a enfrentar um obstáculo intransponível para continuar sua expansão.
Com este agravante, a diminuição da produção do valor e da mais-valia, o capital busca se valorizar como capital fictício na esfera financeira do capitalismo mundializado. É neste período que os paises desenvolvidos rompem com os acordo de Bretton Woods, que regulavam o movimento dos capitais a nível mundial. Ao romper com essa regulação, entre elas a câmbio fixo e a conversibilidade do dólar em ouro, os paises ricos, liderados pelos Estados Unidos deixam o caminho livre para livre mobilidade dos capitais, criando aquilo que Keynes chamou de capitalismo-cassino.
Com essa desregulamentação o capital retira seu dinheiro da esfera produtiva e passa a aplicá-lo na esfera financeira atrás de uma valorização maior e mais fácil do que a que ele encontrava na produção. A partir desse momento a especulação do capital mundializado passa a comandar hegemonicamente sua razão de ser e sua lógica de acumulação. O capital produtivo se torna refém do capital fictício e o capital ingressa numa crise estrutural crônica e permanente que se estende até os dias atuais.
O conhecido processo de globalização ou para sermos mais preciso, o processo de mundialização do capital, significa a expansão do modo de produção capitalista para todo mundo segundo sua própria lógica de acumulação, comandado, desta vez, pelos interesses do capital fictício, que agora subordina a produção à especulação.
Outra alternativa que o sistema do capital encontrou para tentar superar sua crise foi a utilização da taxa de utilização decrescente das mercadorias.[7] Esta taxa está relacionada aos avanços da produtividade e significa tornar descartáveis o mais rápido possível mercadorias que antes eram consideradas bens duráveis. Segundo Mészáros a taxa de utilização decrescente afeta de forma negativa todas as três dimensões fundamentais da produção e do consumo capitalistas, que são: 1) bens e serviços; 2) instalações e maquinaria; 3) força de trabalho.
Com relação ao primeiro, a tendência é aumentar a velocidade da circulação do capital para compensar as tendências mais destrutivas do capital. No segundo caso ela significa a sub-utilização crônica, ligado a uma pressão crescente, reagindo à própria tendência, encurtando o ciclo de amortização dos mesmos. Acompanha tudo isto a ideologia da “inovação tecnológica”, que sucateia maquinário totalmente novo após utilizá-lo muito pouco. E a ultima, a taxa de utilização decrescente da força de trabalho se manifesta na forma de desemprego crescente. Das três esta é a saída mais explosiva para o capital, pois a força de trabalho não é só um mero fator de produção, mas também massa consumidora vital para o ciclo da reprodução capitalista e da realização da mais-valia.
As duas primeiras formas da taxa de utilização decrescente podem produzir canais para a expansão do capital, mas a terceira forma permanece latente, com todos os seus riscos para o capital e o seu prejuízo para os trabalhadores. Mészáros relata este perigo para os trabalhadores:
“Só quando o potencial das duas primeiras dimensões – tal como manifestas em relação a (1) bens e serviços; e (2) instalações e maquinários – para afastar as contradições inerentes à taxa de utilização decrescente não conseguir um efeito suficientemente abrangente, somente então será ativado o selvagem mecanismo de expulsão em quantidades maciças de trabalho vivo do processo produção”.[8]
Como conseqüência do mecanismo da taxa de utilização decrescente, temos o que ficou conhecido como “desemprego estrutural”. Contraditoriamente, num primeiro momento o capital consegue superar sua crise aumentando sua rotação e lucratividade, mas num segundo momento temos o retorno da crise, causada pelo desemprego em massa, pela queda do consumo e, por conseguinte a superprodução e a queda da taxa de lucro.
Alem disso o capital criou mais uma alternativa para sua crise de acumulação: o complexo militar-industrial. Este complexo apresentou-se ao capital como o modo de combinar o máximo de expansão com a taxa de utilização decrescente mínima. Esse meio de solucionar a crise de superprodução já havia sido adotado antes da Primeira Guerra Mundial, mas sua adoção geral ocorreu somente após a Segunda Guerra Mundial. A grande inovação do complexo militar-industrial para o capitalismo é obliterar a diferença vital entre consumo e destruição. Mészáros analisa este complexo e sua principal função:
“O complexo militar-industrial não só aperfeiçoa os meios pelos quais o capital pode agora lidar com todas essas flutuações e contradições estruturais, mas também dá um salto quantitativo no sentido de que o alcance e o tamanho absoluto de suas operações rentáveis se tornam incomparavelmente maiores do que poderia ser concebido nos estágios anteriores dos desdobramentos capitalistas”.[9]
As conseqüências para a humanidade desta nova tentativa do capital de superar suas crises são catastróficas e ameaçam concretamente o futuro da humanidade. Os investimentos no complexo militar-industrial colocam no horizonte da sociedade a auto-reprodução destrutiva ampliada, que acontece tanto na produção de mercadorias no campo civil como também no campo militar. Esta solução que o capital encontrou coloca em risco a sobrevivência de todos os seres humanos, ou melhor, de todos os seres vivos do planeta.
Podemos concluir reforçando que a crise e o capital andam sempre juntos. Que a partir da década de 1970 o capital passa a viver uma crise estrutural que se estende até os nossos dias. As três dimensões fundamentais do capital-produção, consumo e circulação – exibem perturbações cada vez maiores. Essas perturbações atingem a função vital do capital e impedem o deslocamento das suas contradições.
O capital tem tentado administrar a crise estrutural, mas uma série de problemas tem impedido que ele consiga sucesso nessas tentativas. A novidade desta crise se resume nestes fatores: a) seu caráter é universal; b) seu alcance é global; c) sua escala de tempo é contínua e d) seu modo de se desdobrar é rastejante.[10] E os problemas que o capital tem encontrado são: 1) contradições internas do capital sob o controle do complexo industrial-militar e das transnacionais; 2) contradições sociais econômicas e políticas dos países pós-capitalistas, intensificando a crise do sistema do capital; 3) aumento das rivalidades entre os países capitalistas mais desenvolvidos; 4) dificuldade de manter o sistema neocolonial de dominação.[11]
Essas quatro categorias, como podemos ver nos dias que correm, tendem para intensificar e agravar os antagonismos existentes. E o capital e os Estados que o representam só conseguem atacar seus efeitos e não suas causas, pois isso colocaria em xeque a própria viabilidade do modo de produção capitalista. Podemos fechar concordando com a conclusão de Mészáros:
“O mais provável é ao contrário, continuarmos afundando cada vez mais na crise estrutural, mesmo que ocorram alguns sucessos conjunturais, como aqueles resultantes de uma relativa reversão positiva, no devido tempo, de determinantes meramente cíclicos da crise atual do capital”.[12]
A crise estrutural do capital nos ensina uma importante lição: dentro dos marcos do sistema do capital ela é insolúvel e, por isso, é preciso construir um caminho para além do capital, para garantir a continuidade da raça humana e de toda a vida.
[1] LUKÁCS, Georg. História e Consciência de Classe. Porto, Ed. Escorpião, 1974, p. 101..
[2] FAUSTO, Ruy. Marx: Lógica e Política I.São Paulo,Brasiliense,1983,p.28
[3] MARX, Karl. O Capital. Rio de Janeiro, Bertand Brasil, 1996. L.1, V. I, p. 171.
[4] MARX, Karl. O Capital. São Paulo, Difel, 1985. L.3, V. IV, p. 278.
[5] Idem, p. 305.
[6] BRUNHOFF, Suzanne. A Hora do Mercado. São Paulo, Ed. UNESP, 1991, p. 56.
[7] MÉSZÁROS, István. Para Além do Capital. São Paulo e Campinas, Ed. Boitempo e Unicamp, 2002, p. 634.
[8] Idem, p. 674.
[9] Idem, p. 690.
[10] Idem, p. 796.
[11] Idem, p. 808.
[12] Idem, p. 810.