por István Mészáros
[*]
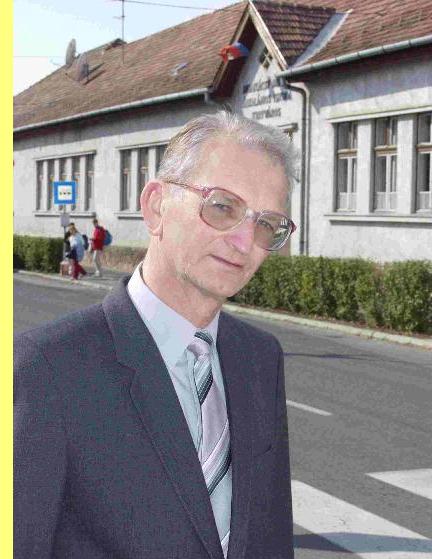 Quando se afirma a necessidade de uma mudança estrutural radical
é necessário que fique desde logo claro que não se trata
de um apelo a uma utopia irrealizável. Bem pelo contrário, a
característica essencial das teorias utopistas modernas é
precisamente a projecção de que o melhoramento das
condições de vida dos trabalhadores pode ser alcançado no
quadro estrutural existente nas sociedades criticadas. Foi neste
espírito que Robert Owen de New Lanark, que mantinha uma parceria
insustentável com o filósofo utilitarista liberal Jeremy Bentham,
tentou realizar as suas reformas sociais e pedagógicas. Ele exigia o
impossível.
Como sabemos, o sonante princípio moral utilitarista do
"maior bem para o maior número"
não teve, desde que Bentham o advogou, nenhuma
tradução real. O problema é que, sem uma correcta
compreensão da natureza económica e social da crise do nosso
tempo – que hoje já não pode ser negada nem sequer pelos
defensores da ordem capitalista, mesmo que estes continuem a rejeitar a
necessidade de uma mudança estrutural – as hipóteses de
chegar a bom porto ficam seriamente comprometidas. O deperecimento do
"Estado Social", mesmo nos poucos países privilegiados onde
chegou realmente a ser implementado, apresenta-se como uma grande
lição neste domínio.
Quando se afirma a necessidade de uma mudança estrutural radical
é necessário que fique desde logo claro que não se trata
de um apelo a uma utopia irrealizável. Bem pelo contrário, a
característica essencial das teorias utopistas modernas é
precisamente a projecção de que o melhoramento das
condições de vida dos trabalhadores pode ser alcançado no
quadro estrutural existente nas sociedades criticadas. Foi neste
espírito que Robert Owen de New Lanark, que mantinha uma parceria
insustentável com o filósofo utilitarista liberal Jeremy Bentham,
tentou realizar as suas reformas sociais e pedagógicas. Ele exigia o
impossível.
Como sabemos, o sonante princípio moral utilitarista do
"maior bem para o maior número"
não teve, desde que Bentham o advogou, nenhuma
tradução real. O problema é que, sem uma correcta
compreensão da natureza económica e social da crise do nosso
tempo – que hoje já não pode ser negada nem sequer pelos
defensores da ordem capitalista, mesmo que estes continuem a rejeitar a
necessidade de uma mudança estrutural – as hipóteses de
chegar a bom porto ficam seriamente comprometidas. O deperecimento do
"Estado Social", mesmo nos poucos países privilegiados onde
chegou realmente a ser implementado, apresenta-se como uma grande
lição neste domínio.
Permitam-me começar por citar um artigo recente dos editores de The Financial Times, jornal diário de referência da burguesia internacional.
Ao abordar os perigos das crises financeiras – reconhecidas agora até pelos seu editores como perigosas – terminam o seu editorial com as seguintes palavras: "Os dois lados (Democratas e Repúblicanos) são responsáveis pelo vazio de liderança e pela ausência de uma decisão responsável. É uma falha grave de governação e mais perigosa do que aquilo que Washington pensa." [1] A sabedoria editorial não vai mais longe que isto no que toca à questão das "dívidas soberanas" e do crescente défice orçamental. Aquilo que torna o editorial do Financial Times ainda mais vazio que o "vazio de liderança" que critica é o sonante subtítulo do artigo: "Washington deve parar de fazer pose e começar a governar". Como se os editoriais deste tipo não contribuíssem mais para a pose do que para a governação propriamente dita. Pois o que está realmente em questão é o endividamento catastrófico da toda-poderosa "casa-mãe" do capitalismo global, os Estados Unidos da América, onde a dívida do governo (excluindo as dívidas individuais e privadas) atinge já o valor de 14 milhões de milhões (trillions) de dólares – valor que aparece projectado na fachada de um edifício público de Nova Iorque a atestar a tendência crescente da dívida.
O que pretendo sublinhar é que a crise com que temos de lidar é uma crise profunda e estrutural que necessita da adopção de medidas estruturais e abrangentes, de modo atingirmos uma solução duradoura. É também necessário relembrar que a crise estrutural com que lidamos hoje não teve a sua origem em 2007, com o "rebentar da bolha" do mercado imobiliário americano, mas, pelo menos, quatro décadas antes. Eu já tinha exposto esta situação, nestes termos, em 1967, ainda antes da explosão do Maio de 68 em França [2] , e escrevi, em 1971, no prefácio à terceira edição de Marx's Theory of Alienation, que os acontecimentos e desenvolvimentos que então se davam: "testemunhavam de forma dramática a intensificação da crise estrutural global do capital".
A este respeito é necessário clarificar as diferenças relevantes entre os vários tipos e modalidades de crise. Não é de somenos importância o facto de uma crise na esfera social poder ser considerada periódica (conjuntural), ou de os seus fundamentos serem muito mais profundos do que isso. Pois, como é evidente, a forma de lidar com uma crise estrutural, uma crise dos fundamentos, não pode ser conceptualizada nos mesmos termos e segundo as mesmas categorias que se utilizam para lidar com as crises periódicas ou conjunturais. A diferença fundamental entre estes dois tipos de crise contrastantes é que a crise periódica ou conjuntural pode ser compreendida e resolvida dentro da estrutura actual, enquanto que a outra afecta a própria estrutura estabelecida no seu todo.
Em termos gerais, a diferença não se reduz a uma mera questão de gravidade contrastante entre os dois tipos de crise. Uma crise periódica ou conjuntural pode revelar-se de uma gravidade dramática – como foi o caso da Grande Depressão de 1929-1933 – e ainda assim poder ser resolvida dentro dos parâmetros do sistema em que ocorre. Da mesma forma, mas em sentido inverso, o carácter "não explosivo" de uma crise estrutural prolongada, contrastando com as "grandes tempestades" (palavras de Marx) nas quais se dão e se resolvem as crises conjunturais, pode levar à concepção de estratégias erradas resultantes de uma má interpretação induzida pela ausência de "tempestades"; Como se a ausência dessas "tempestades" fosse a prova cabal da estabilidade infinita do "capitalismo organizado" e da "integração da classe operária" no sistema.
Nunca é demais assinalar que a crise que vivemos não pode ser compreendida se não a remetermos para a estrutura social no seu todo. Isto quer dizer que, para clarificarmos a natureza desta crise, cada vez mais grave e duradoura, que afecta hoje o mundo inteiro, devemos considerar a crise do sistema capitalista no seu todo. Pois a crise do capital que experimentamos hoje é uma crise estrutural que tudo abrange.
Vejamos, de forma tão breve e concisa quanto possível, as caractéristicas fundamentais da crise estrutural com que lidamos.
A novidade histórica da crise actual manifesta-se em quatro aspectos:
Para o pôr em termos mais simples e mais gerais, a crise estrutural afecta a totalidade de um complexo social, e todas as relações entre as partes que o constituem (ou sub-complexos), bem como a sua relação com outros complexos aos quais possa estar ligado. Em sentido inverso, uma crise não estrutural afecta somente as partes do complexo em questão, e assim, por mais grave que seja para as partes afectadas, não põe em perigo a sobrevivência da estrutura no seu todo.
Consequentemente, o deslocar das contradições é possível apenas enquanto a crise for parcial, relativa e controlável internamente pelo sistema, necessitando apenas de viragens - mesmo que de grandes dimensões - relativamente autónomas dentro do próprio sistema. Desta forma uma crise estrutural põe em questão a existência da totalidade do complexo envolvido, postulando a sua transcendência e a sua substituição por um complexo alternativo.
Este mesmo contraste pode ser revelado pelos limites imediatos que um complexo social particular tem, em qualquer período de tempo, quando comparados com aqueles que ficam além do seu alcance. Assim, uma crise estrutural não se prende aos limites imediatos, mas sim aos derradeiros limites de uma estrutura global... [3]
Assim, e num sentido óbvio, nada pode ser mais sério que a crise
estrutural do modo de reprodução metabólico do capital
(que define os derradeiros limites da ordem estabelecida). Mas, apesar da
profunda seriedade nos seus parâmetros gerais, a crise estrutural pode,
à primeira vista, não aparentar ser de uma importância
assim tão decisiva quando comparada com as vicissitudes
dramáticas de uma grande crise conjuntural. De facto, as
"tempestades" com que se manifestam as crises conjunturais são
bastante paradoxais, na medida em que, pelo seu modo de desdobramento, as
crises conjunturais não só descarregam tais tempestade mas
acabam, no mesmo movimento, por se resolver enquanto crises (na medida em que
as circunstâncias o permitem). Isto é possível
graças ao seu carácter parcial, que não implica os limites
últimos da estrutura global estabelecida. Ao mesmo tempo, e pela mesma
razão, as crises parciais podem apenas solucionar os problemas
estruturais subjacentes - que inevitavelmente se continuarão a
manifestar sob a forma de crises conjunturais - de forma temporária,
parcial e bastante limitada: até a próxima crise estrutural
começar a surgir no horizonte da sociedade.
Contrariamente, atendendo à natureza necessariamente complexa e prolongada de uma crise estrutural, que, não sendo episódica nem fugaz, se manifesta num tempo histórico determinado e é condicionada pelo sentido de uma época, é na inter-relação cumulativa do todo que a questão se decide, mesmo sob a (falsa) aparência de normalidade. Isto ocorre assim porque numa crise estrutural tudo está em jogo, envolvendo os mais abrangentes e derradeiros limites da ordem em questão, dos quais não pode haver uma instância particular simbólica. Sem a compreensão do todo das relações e implicações sistémicas dos acontecimentos particulares, perderemos a noção das mudanças significativas reais e das correspondentes alavancas de uma possível intervenção estratégica que possa afectar positivamente o problema, em vista da sua transformação sistémica. A nossa responsabilidade social clama por uma vigilância crítica e determinada das inter-relações cumulativas emergentes, que não se pode contentar nem reconfortar com a normalidade ilusória que antecede o desabamento do tecto que jaz sobre as nossas cabeças.
É por demais necessário sublinhar que, durante as três décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, a expansão económica dos países capitalistas de proa gerou a ilusão, mesmo junto dos mais distintos intelectuais de Esquerda, da superação histórica da "crise do capitalismo", e do surgimento de uma nova fase de "capitalismo organizado avançado ". Gostaria de ilustrar este problema com algumas passagens da lavra daquele que foi um dos maiores intelectuais militantes do século XX: Jean-Paul Sartre; por quem, como ficou claro no livro que escrevi sobre a sua obra, tenho a maior das considerações. No entanto, a verdade é que a adopção da ideia de que pela superação da "crise do capitalismo" a ordem estabelecida se tornou num "capitalismo avançado" foi para Sartre fonte de grandes dilemas. Isto é ainda mais significativo dado que ninguém poderá negar o compromisso que Sartre mantinha com a busca de uma solução emancipatória viável, nem tão pouco a sua integridade moral. Em relação ao nosso problema é da maior utilidade recordar a importante entrevista que Sartre concedeu ao grupo italiano Manifesto – depois de clarificarmos a sua concepção das insuperáveis implicações negativas da sua própria categoria explicativa da institucionalização inevitavelmente prejudicial, que ele chamava "grupo em fusão" na sua Critica da Razão Dialéctica – na qual ele chegou a esta dolorosa conclusão: "Ao mesmo tempo que reconheço a necessidade de organização tenho de confessar que não vejo como é que podem ser resolvidos os problemas aos quais se confronta uma qualquer estrutura organizada" [4]
A dificuldade prende-se com o facto de os termos da análise social de Sartre serem concebidos de uma forma tal que vários factores e correlações, que na realidade estão interligados, constituindo as diferentes faces de um mesmo complexo societal, são apresentados separadamente, por dicotomias e oposições, gerando um dilema insolúvel e condenando ao fracasso as forças emancipatórias sociais. Isto é claramente demonstrado na entrevista ao grupo Manifesto:
Contrariamente, atendendo à natureza necessariamente complexa e prolongada de uma crise estrutural, que, não sendo episódica nem fugaz, se manifesta num tempo histórico determinado e é condicionada pelo sentido de uma época, é na inter-relação cumulativa do todo que a questão se decide, mesmo sob a (falsa) aparência de normalidade. Isto ocorre assim porque numa crise estrutural tudo está em jogo, envolvendo os mais abrangentes e derradeiros limites da ordem em questão, dos quais não pode haver uma instância particular simbólica. Sem a compreensão do todo das relações e implicações sistémicas dos acontecimentos particulares, perderemos a noção das mudanças significativas reais e das correspondentes alavancas de uma possível intervenção estratégica que possa afectar positivamente o problema, em vista da sua transformação sistémica. A nossa responsabilidade social clama por uma vigilância crítica e determinada das inter-relações cumulativas emergentes, que não se pode contentar nem reconfortar com a normalidade ilusória que antecede o desabamento do tecto que jaz sobre as nossas cabeças.
É por demais necessário sublinhar que, durante as três décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, a expansão económica dos países capitalistas de proa gerou a ilusão, mesmo junto dos mais distintos intelectuais de Esquerda, da superação histórica da "crise do capitalismo", e do surgimento de uma nova fase de "capitalismo organizado avançado ". Gostaria de ilustrar este problema com algumas passagens da lavra daquele que foi um dos maiores intelectuais militantes do século XX: Jean-Paul Sartre; por quem, como ficou claro no livro que escrevi sobre a sua obra, tenho a maior das considerações. No entanto, a verdade é que a adopção da ideia de que pela superação da "crise do capitalismo" a ordem estabelecida se tornou num "capitalismo avançado" foi para Sartre fonte de grandes dilemas. Isto é ainda mais significativo dado que ninguém poderá negar o compromisso que Sartre mantinha com a busca de uma solução emancipatória viável, nem tão pouco a sua integridade moral. Em relação ao nosso problema é da maior utilidade recordar a importante entrevista que Sartre concedeu ao grupo italiano Manifesto – depois de clarificarmos a sua concepção das insuperáveis implicações negativas da sua própria categoria explicativa da institucionalização inevitavelmente prejudicial, que ele chamava "grupo em fusão" na sua Critica da Razão Dialéctica – na qual ele chegou a esta dolorosa conclusão: "Ao mesmo tempo que reconheço a necessidade de organização tenho de confessar que não vejo como é que podem ser resolvidos os problemas aos quais se confronta uma qualquer estrutura organizada" [4]
A dificuldade prende-se com o facto de os termos da análise social de Sartre serem concebidos de uma forma tal que vários factores e correlações, que na realidade estão interligados, constituindo as diferentes faces de um mesmo complexo societal, são apresentados separadamente, por dicotomias e oposições, gerando um dilema insolúvel e condenando ao fracasso as forças emancipatórias sociais. Isto é claramente demonstrado na entrevista ao grupo Manifesto:
Manifesto: Em que bases precisas é que se pode preparar uma alternativa revolucionária?
Sartre: Repito, é mais na base da "alienação" do que na base das "necessidades". Em suma na reconstrução do individual e da liberdade, reconstrução essa tão necessária que as mais refinadas técnicas de integração não se podem dar ao luxo de ignorar. [5]
Desta forma Sartre, pela sua compreensão estratégica de como
superar o carácter opressivo da realidade capitalista, constrói
uma oposição indefensável entre a
"alienação" dos trabalhadores e as suas
"necessidades" alegadamente já satisfeitas, tornando muito
difícil prever uma solução prática
exequível. O problema não se prende apenas com a desmesurada
credibilização das "refinadas técnicas de
integração", teoria sociológica refinada e muito em
voga, mas muito superficial. Infelizmente, o problema é bem mais
sério.
O real problema é o da validação do "capitalismo avançado", e da tese subsequente da "integração" da classe operária no sistema, que Sartre partilha em larga medida com Herbert Marcuse. A verdade é que, em contraste com a integração (sem dúvida possível) de alguns trabalhadores na ordem capitalista, a classe trabalhadora - antagonista estrutural do capital, e que representa a única alternativa hegemónica historicamente possível ao sistema do capital - não pode ser integrada na estrutura exploradora e alienante de reprodução social do capital. O que torna impossível tal assimilação é o antagonismo estrutural subjacente entre capital e trabalho que decorre necessariamente da realidade das relações de classe, isto é, da incontornável relação de domínio e subordinação que entre elas existe.
Neste discurso, até a plausibilidade mínima da falsa alternativa, de tipo Sartriano e Marcusiano, entre contínua alienação e "satisfação das necessidades" é "estabelecida" com base na descarrilhante compartimentalização das (suicidárias) indeterminações estruturais do capital, globalmente implementadas e globalmente insustentáveis, das quais depende a mais elementar viabilidade sistémica da hegemónica ordem social vigente do capital. Assim é extremamente problemático separar o "capitalismo avançado" das chamadas "zonas marginais" e do "terceiro mundo". Como se a ordem reprodutiva do "capitalismo avançado" se pudesse sustentar por um qualquer período de tempo, e no futuro mesmo indefinidamente, sem a exploração constante das "zonas marginais" e sem o domínio imperialista do "terceiro mundo".
É aqui necessário citar a passagem na qual Sartre trata destes problemas. Essa passagem reveladora é a seguinte:
O real problema é o da validação do "capitalismo avançado", e da tese subsequente da "integração" da classe operária no sistema, que Sartre partilha em larga medida com Herbert Marcuse. A verdade é que, em contraste com a integração (sem dúvida possível) de alguns trabalhadores na ordem capitalista, a classe trabalhadora - antagonista estrutural do capital, e que representa a única alternativa hegemónica historicamente possível ao sistema do capital - não pode ser integrada na estrutura exploradora e alienante de reprodução social do capital. O que torna impossível tal assimilação é o antagonismo estrutural subjacente entre capital e trabalho que decorre necessariamente da realidade das relações de classe, isto é, da incontornável relação de domínio e subordinação que entre elas existe.
Neste discurso, até a plausibilidade mínima da falsa alternativa, de tipo Sartriano e Marcusiano, entre contínua alienação e "satisfação das necessidades" é "estabelecida" com base na descarrilhante compartimentalização das (suicidárias) indeterminações estruturais do capital, globalmente implementadas e globalmente insustentáveis, das quais depende a mais elementar viabilidade sistémica da hegemónica ordem social vigente do capital. Assim é extremamente problemático separar o "capitalismo avançado" das chamadas "zonas marginais" e do "terceiro mundo". Como se a ordem reprodutiva do "capitalismo avançado" se pudesse sustentar por um qualquer período de tempo, e no futuro mesmo indefinidamente, sem a exploração constante das "zonas marginais" e sem o domínio imperialista do "terceiro mundo".
É aqui necessário citar a passagem na qual Sartre trata destes problemas. Essa passagem reveladora é a seguinte:
O capitalismo avançado, em relação com a consciência que tem da sua própria condição, e apesar das enormes disparidades na distribuição de dividendos, consegue satisfazer as necessidades elementares da maior parte da classe operária – ficam ainda por satisfazer as zonas marginais, 15 por cento dos trabalhadores dos Estados Unidos, os negros e os imigrantes, os idosos e, a uma escala global, o "terceiro mundo". Mas o capitalismo satisfaz certas necessidades primárias, e também satisfaz certas necessidades artificialmente criadas, como por exemplo a necessidade de ter um carro. Esta situação, obrigou-me a rever a minha "teoria das necessidades" uma vez que estas necessidades já não estão, no "capitalismo avançado", em oposição fundamental ao sistema. Pelo contrário, elas tornaram-se, pelo menos em parte e quando controladas pelo sistema, num instrumento de integração do proletariado em certos processos produzidos e dirigidos pelo lucro. O trabalhador esgota-se para produzir um carro e para ganhar o dinheiro para poder comprar um carro; esta compra dá-lhe a impressão de ter suprimido uma necessidade sua. O sistema explora-o ao mesmo tempo que lhe oferece um objectivo e a possibilidade de o alcançar. A consciência do carácter intolerável do sistema já não deve ser procurada na impossibilidade de satisfazer as necessidades básicas, mas sobretudo na consciência da alienação – por outras palavras, no facto de que esta vida não merece ser vivida e não tem significado, que este mecanismo é enganador, que estas necessidades são falsas, artificialmente criadas, extenuantes e que só servem uma lógica de lucro. Mas unir uma classe com base nisto é ainda mais difícil. [6]
Se aceitarmos sem mais esta caracterização da ordem do
"capitalismo avançado", a tarefa de produção de
uma consciência emancipatória não é apenas
"mais difícil",
é
impossível.
Mas o fundamento dúbio a partir da qual podemos chegar a um tal
conclusão
apriorística,
pessimista e derrotista – que prescreve, do alto da
"nova teoria das necessidades" formulada pelos intelectuais, a
renúncia dos operários, às suas "ávidas
necessidades artificiais", representadas pelos carros, e a sua
substituição pelo postulado, completamente abstracto, de que
"esta vida não vale a pena ser vivida e não tem sentido"
(um postulado nobre, mas considerávelmente abstracto, e de
resto efectivemente contrariado pela necessidade real que têm os membros
da classe trabalhadora de assegurar as condições de uma
existência economicamente sustentável) – é
simultaneamente a aceitação de
afirmações
insustentáveis e a
omissão,
igualmente inaceitável, de
algumas das mais vitais determinações do actual sistema do
capital na sua
crise estrutural
historicamente irreversível.
Desde logo, falar de "capitalismo avançado " – quando o sistema do capital, enquanto forma de reprodução social metabólica, se encontra na fase descendente do seu desenvolvimento histórico, e, portanto, é avançado apenas de um ponto de vista capitalista e sob nenhuma outra forma, visto que apenas se mantém de uma forma cada vez mais destrutiva e, em última análise, auto-destrutiva – é muito problemático. Outra asserção: a caracterização da esmagadora maioria da humanidade – a categoria da pobreza, que inclui "os negros e os imigrantes", os "idosos" e "em grande escala, o terceiro mundo" – como pertencente a "zonas marginais" (no sentido dos "marginais" de Marcuse), é igualmente insustentável. Pois, na realidade, é o "mundo capitalista avançado" que constitui uma margem privilegiada no seio do sistema, que é, a longo prazo, totalmente insustentável, e que nega à maior parte do mundo as suas necessidades mais básicas. Esta é a verdadeira margem e não aquilo que Sartre descreve na sua entrevista ao grupo Manifesto como constituindo as "zonas marginais". Mesmo no que diz respeito aos Estados Unidos, a margem de pobreza é consideravelmente subestimada: apenas 15% da população. Para além disso, caracterizar os carros dos operários como meras "necessidades artificiais" que apenas "servem o lucro" é ter um ponto de vista completamente unilateral. Pois, ao contrário de muitos intelectuais, nem todos os operários relativamente bem pagos, para já não falar da classe trabalhadora como um todo, têm a sorte de ter o seu local de trabalho ao lado da porta do seu quarto.
Para além do mais, algumas das mais graves falhas e contradições estruturais encontram-se surpreendentemente ausentes da descrição feita por Sartre do "capitalismo avançado", o que esvazia virtualmente o conceito de sentido. Assim, uma das mais importantes necessidades, sem a qual nenhuma sociedade – passada, presente ou futura – pode sobreviver, é a necessidade de trabalhar, tanto para os indivíduos produtivamente activos – reunidos numa ordem social completamente emancipada – como para a sociedade em geral, na sua relação sustentável com a natureza. A incapacidade congénita do sistema do capital para resolver este problema estrutural fundamental, que afecta todas as categorias de trabalhadores, não apenas no "terceiro mundo", mas também nos mais privilegiados países do "capitalismo avançado", uma tal incapacidade, que leva a um aumento perigoso do desemprego, constitui um dos limites absolutos do sistema do capital no seu todo. Outro problema sério, que reforça a inviabilidade presente e futura do sistema do capital é o peso cada vez maior dado a sectores parasitários na economia – como a especulação aventureira, produtora de crise, que infesta (sob a forma de uma necessidade objectiva, muita vezes erroneamente representada sobre a forma de erro ou falha pessoal) o sector financeiro, e a fraude institucionalizada que se lhe associa – em contraste com os ramos produtivos da economia social, necessários à satisfação das necessidades humanas genuínas. Uma tal configuração manifesta um acentuado, e ameaçador, contraste com a fase ascendente do desenvolvimento histórico do capital, quando o prodigioso dinamismo expansionista do sistema (incluindo a revolução industrial) era devido a feitos produtivos socialmente viáveis e valorizáveis. Temos ainda que adicionar a tudo isto os fardos económicos perdulários impostos à sociedade de forma autoritária pelo estado e pelo complexo militar/industrial – a permanente indústria de armamento e as guerras correspondentes – como parte integral do perverso "crescimento económico" do "capitalismo avançado organizado". E, para mencionar apenas mais uma das consequências catastróficas do desenvolvimento sistémico do capital "avançado", devemos ter em mente a perdulária transgressão ecológica do nosso insustentável modo de reprodução social metabólico num planeta finito [7] a sua exploração ganaciosa dos recursos materiais não-renováveis e a cada vez mais perigosa destruição da natureza. Dizê-lo não é tentar parecer sábio depois do facto consumado. Escrevi na mesma altura em que Sartre deu a sua entrevista ao grupo Manifesto que:
Desde logo, falar de "capitalismo avançado " – quando o sistema do capital, enquanto forma de reprodução social metabólica, se encontra na fase descendente do seu desenvolvimento histórico, e, portanto, é avançado apenas de um ponto de vista capitalista e sob nenhuma outra forma, visto que apenas se mantém de uma forma cada vez mais destrutiva e, em última análise, auto-destrutiva – é muito problemático. Outra asserção: a caracterização da esmagadora maioria da humanidade – a categoria da pobreza, que inclui "os negros e os imigrantes", os "idosos" e "em grande escala, o terceiro mundo" – como pertencente a "zonas marginais" (no sentido dos "marginais" de Marcuse), é igualmente insustentável. Pois, na realidade, é o "mundo capitalista avançado" que constitui uma margem privilegiada no seio do sistema, que é, a longo prazo, totalmente insustentável, e que nega à maior parte do mundo as suas necessidades mais básicas. Esta é a verdadeira margem e não aquilo que Sartre descreve na sua entrevista ao grupo Manifesto como constituindo as "zonas marginais". Mesmo no que diz respeito aos Estados Unidos, a margem de pobreza é consideravelmente subestimada: apenas 15% da população. Para além disso, caracterizar os carros dos operários como meras "necessidades artificiais" que apenas "servem o lucro" é ter um ponto de vista completamente unilateral. Pois, ao contrário de muitos intelectuais, nem todos os operários relativamente bem pagos, para já não falar da classe trabalhadora como um todo, têm a sorte de ter o seu local de trabalho ao lado da porta do seu quarto.
Para além do mais, algumas das mais graves falhas e contradições estruturais encontram-se surpreendentemente ausentes da descrição feita por Sartre do "capitalismo avançado", o que esvazia virtualmente o conceito de sentido. Assim, uma das mais importantes necessidades, sem a qual nenhuma sociedade – passada, presente ou futura – pode sobreviver, é a necessidade de trabalhar, tanto para os indivíduos produtivamente activos – reunidos numa ordem social completamente emancipada – como para a sociedade em geral, na sua relação sustentável com a natureza. A incapacidade congénita do sistema do capital para resolver este problema estrutural fundamental, que afecta todas as categorias de trabalhadores, não apenas no "terceiro mundo", mas também nos mais privilegiados países do "capitalismo avançado", uma tal incapacidade, que leva a um aumento perigoso do desemprego, constitui um dos limites absolutos do sistema do capital no seu todo. Outro problema sério, que reforça a inviabilidade presente e futura do sistema do capital é o peso cada vez maior dado a sectores parasitários na economia – como a especulação aventureira, produtora de crise, que infesta (sob a forma de uma necessidade objectiva, muita vezes erroneamente representada sobre a forma de erro ou falha pessoal) o sector financeiro, e a fraude institucionalizada que se lhe associa – em contraste com os ramos produtivos da economia social, necessários à satisfação das necessidades humanas genuínas. Uma tal configuração manifesta um acentuado, e ameaçador, contraste com a fase ascendente do desenvolvimento histórico do capital, quando o prodigioso dinamismo expansionista do sistema (incluindo a revolução industrial) era devido a feitos produtivos socialmente viáveis e valorizáveis. Temos ainda que adicionar a tudo isto os fardos económicos perdulários impostos à sociedade de forma autoritária pelo estado e pelo complexo militar/industrial – a permanente indústria de armamento e as guerras correspondentes – como parte integral do perverso "crescimento económico" do "capitalismo avançado organizado". E, para mencionar apenas mais uma das consequências catastróficas do desenvolvimento sistémico do capital "avançado", devemos ter em mente a perdulária transgressão ecológica do nosso insustentável modo de reprodução social metabólico num planeta finito [7] a sua exploração ganaciosa dos recursos materiais não-renováveis e a cada vez mais perigosa destruição da natureza. Dizê-lo não é tentar parecer sábio depois do facto consumado. Escrevi na mesma altura em que Sartre deu a sua entrevista ao grupo Manifesto que:
Outra contradição básica do sistema capitalista de controlo é que ele não pode separar "avanço" de destruição, nem "progresso" de desperdício – independentemente de quão catastrófico seja o resultado. Quanto mais liberta o seu poder produtivo, mais desencandeia o seu poder destrutivo; e quanto mais aumenta o seu volume de produção, mais é obrigado a enterrar tudo sob montanhas de desperdícios. O conceito de economia é radicalmente incompatível com a "economia" da produção do capital que, necessariamente, junta ultraje ao ultraje ao usar primeiro, num ganacioso desperdício, os recursos limitados do nosso planeta, para depois agravar o resultado através da poluição e do envenenamento do ambiente humano, com a sua produção massiva de lixos e eflúvios. [8]
Assim, as asserções problemáticas e as importantes
omissões
presentes na caracterização sartriana do
"capitalismo avançado" enfraquecem consideravelmente o poder
de negação do seu discurso emancipatório. Baseando-se num
princípio dicotómico, que afirma repetidamente "a
irredutibilidade da ordem cultural à ordem natural", Sartre procura
sempre soluções de "ordem cultural", ou seja, ao
nível da consciência individual, através
do trabalho intelectual comprometido da "consciência sobre a
consciência".
Sugere assim que a solução está
num aumento da "consciência da alienação" - na
"ordem cultural" - ao mesmo tempo que rejeita a viabilidade de uma
estratégia revolucionária baseada numa necessidade de "ordem
natural". As necessidades materiais, aliás consideradas como
estando já satisfeitas para a maioria dos trabalhadores, constituiriam
um "mecanismo ilusório e falso" e um "instrumento de
integração do proletariado".
Sartre está certamente bastante preocupado com o desafio que representa responder à questão de como aumentar "a consciência do carácter intolerável do sistema". Mas, como é inevitável notar, a própria base tida como condição vital para o sucesso de tal empresa – o poder da "consciência da alienação" sublinhado por Sartre – necessita fortemente de um suporte material. De outra forma, a ideia (mesmo deixando de lado a fraqueza da dita base e a sua circularidade auto-referencial) de que tal consciência "pode prevalecer face ao carácter intolerável do sistema" está condenada a ser posta de lado, como um ideal nobre, mas ineficaz. As declarações pessimistas de Sartre a propósito de necessidade de vencer a realidade materialmente e culturalmente destrutiva, mas solidamente estruturada, deste "conjunto miserável que é o nosso planeta", com as suas "horríveis, feias e más determinações, sem esperança", mostram que esta questão é problemática mesmo se vista do interior do sistema de representações sartriano.
Nesta medida, a questão primeira diz respeito à demonstrabilidade, ou não, do carácter objectivamente intolerável do sistema, pois se tal demonstração carecer de substância, como é proclamado pela noção de um "capitalismo avançado" capaz de satisfazer todas as necessidades materiais, com a mera excepção das "zonas marginais", então "o longo e paciente trabalho de construção da consciência" advogado por Sartre torna-se quase impossível. Este é o tal embasamento objectivo que é necessário (e actualmente pode) ser estabelecido dentro dos seus próprios termos de referência, e que requer a desmistificação radical do carácter cada vez mais destrutivo do "capitalismo avançado". A " consciência do carácter intolerável do sistema" só pode ser construída sobre este terreno material – que inclui o sofrimento causado pela incapacidade do capital "avançado" satisfazer mesmo as necessidades mais elementares nas suas "zonas marginais", o que é claramente demonstrado pelos motins alimentares que têm lugar em vários países – de forma a poder ultrapassar a dicotomia (postulada) entre a ordem cultural e a ordem natural.
Na sua fase ascendente, o sistema do capital pôde basear os seus feitos produtivos num dinamismo expansionista interno – sem ser ainda imperiosa uma orientação monopolista/imperialista que permita aos países mais avançados garantir militarmente o domínio do mundo. No entanto, na senda da circunstância historicamente irreversível que é a sua entrada numa fase produtiva descendente, o sistema do capital tornou-se inseparável de uma necessidade, cada vez mais intensa, de expansão militarista/monopolista e de uma distensão constante da seu quadro estrutural, tendendo, na sua lógica produtiva interna, para o estabelecimento criminoso e perdulário de uma "indústria do armamento permanente", que vai de par com as guerras que necessariamente se lhe encontram associadas.
Na verdade, ainda antes do despoletar da Primeira Guerra Mundial, Rosa Luxemburgo havia identificado claramente a natureza deste fatídico desenvolvimento monopolista/imperialista, rumo a uma orientação destrutivamente produtiva, ao escrever no seu livro A acumulação de Capital que: "O Capital em si mesmo controla, em última análise, o movimento rítmico da produção militar através do poder legislativo e da imprensa, cuja função é a de moldar a chamada "opinião pública". É por isso que esta região particular de acumulação capitalista parece, à primeira vista, capaz de uma expansão infinita." [10]
Por outro lado, a utilização cada vez mais perdulária de energia e de recursos materiais vitais e estratégicos, manifesta não apenas a articulação cada vez mais destrutiva das determinações estruturais do Capital no plano militar (através de uma manipulação legislativa da "opinião pública" que nunca é questionada, e muito menos regulamentada), mas também a cada vez maior usurpação da natureza. Ironicamente, mas de forma nada surpreendente, este momento do desenvolvimento histórico regressivo do sistema do Capital trouxe também consigo amargas consequências para a organização internacional do trabalho.
Com efeito, esta nova articulação do sistema do capital, iniciada no último terço do século XIX, com a sua fase imperialista monopolista intimamente ligada a um domínio global total, deu inicio a uma nova modalidade de dinamismo expansionista (ainda mais antagonista e, em última análise, insustentável), que dá lucros esmagadores a um punhado de países imperialistas privilegiados, e que, assim, adia o "momento da verdade", inseparável da irreprimível crise estrutural vivida pelo sistema nos nossos dias. Este tipo de desenvolvimento imperialista monopolista impulsionou inevitavelmente a possibilidade de uma acumulação e expansão capitalista militar, independentemente do preço a pagar pela destrutividade cada vez maior deste novo dinamismo, que assumiu já a forma de duas guerras mundiais devastadoras, bem como a da total aniquilação da humanidade implícita numa terceira guerra mundial, isto sem contar com a destruição da natureza, que se tornou evidente na segunda metade do séc. XX.
Hoje em dia, estamos a assistir ao aprofundamento da crise estrutural do sistema do capital. A sua destrutividade é visível em todo o lado, e não dá sinais de diminuir. Para o futuro, é crucial a forma como conceptualizamos esta crise, no sentido de encontrar uma solução. Pelo mesmo motivo, é também crucial reexaminar algumas das mais significativas soluções propostas no passado. Aqui não nos será possível mais do que mencionar, com uma brevidade estenográfica, os pontos de vista contrastantes que foram defendidos no passado e indicar a sorte que conhecem nos dias de hoje.
Em primeiro lugar, há que recordar que é mérito do filósofo liberal John Stuart Mill ter notado quão problemático poderia ser um crescimento capitalista infinito, consideração que o levou a propor como solução um "estado estacionário da economia". Naturalmente, um tal "estado estacionário" no quadro do sistema do capital não é mais do que uma ilusão, uma vez que é totalmente incompatível com o imperativo de expansão e acumulação do capital. Mesmo actualmente, quando tanta destruição é causada por um crescimento inadequado e pelas mais ineficazes utilizações dos nossos recursos energéticos e estratégicos vitais, a mitologia do crescimento constante é constantemente reafirmada, juntamente com a projecção ideal de uma "redução da pegada ecológica" em 2050, quando na realidade se está a seguir uma direcção completamente contrária a um tal objectivo. Assim, a realidade do liberalismo revelou-se ser a destrutividade agressiva do neoliberalismo.
Um destino semelhante teve a perspectiva social-democrata. Marx formulou claramente os seus receios acerca deste perigo na sua Critica do Programa de Gotha, mas eles foram totalmente ignorados. Também aqui a contradição entre a promessa Bernsteiniana de um "socialismo evolutivo" e a sua realização prática se revelou impressionante. E isto não apenas graças à capitulação dos partidos e governos sociais-democratas face ao engodo das guerras imperialistas, mas também através da conversão da social-democracia em geral – incluindo o "New Labour" britânico – a versões mais ou menos evidentes de neo-liberalismo, levando ao abandono não apenas do "caminho do socialismo evolutivo", mas de toda e qualquer promessa de reforma social significativa.
Para além disso, uma solução muito propagandeada, após a II Guerra Mundial, às desigualdades crescentes do sistema do capital, foi a difusão mundial do Estado Social. No entanto, a realidade prosaica deste alegado feito histórico é hoje em dia evidente, não só na total incapacidade para instituir o dito Estado Social onde quer que seja no chamado "Terceiro Mundo", mas através da liquidação, em curso, das conquistas relativas desse Estado Social do pós-guerra – nos campos da segurança social, saúde e educação – até mesmo nos poucos países privilegiados onde ele alguma vez chegou a ser instituído.
E, claro, não podemos ignorar a promessa (feita por Estaline e outros) de realizar a fase mais elevada do socialismo através da derrube e da abolição do capitalismo, pois, tragicamente, sete décadas após a Revolução de Outubro, os países da antiga União Soviética e da Europa de Leste vivem uma restauração do capitalismo na sua forma regressiva neoliberal.
O denominador comum de todas estas tentativas – apesar das suas diferenças fundamentais – é que todas elas tentaram alcançar os seus objectivos do interior do quadro estrutural da ordem metabólica social estabelecida. Todavia, como nos ensina a dolorosa experiência histórica, o nosso problema não é simplesmente "derrubar o capitalismo". Pois, mesmo que um tal objectivo possa ser alcançado numa determinada extensão, ele está condenado a ser um feito muito instável, visto que tudo o que é derrubado pode também ser restaurado. A verdadeira – e muito mais difícil – questão, é a da necessidade de uma mudança estrutural radical.
O significado tangível de uma tal mudança estrutural é a completa erradicação do capitalismo do processo social metabólico, ou, por outras palavras, a erradicação do capital do processo metabólico de reprodução societal.
O capital é em si mesmo um modo de controlo global; o que significa que ou ele controla tudo ou implode enquanto sistema de controlo societal reprodutivo. Consequentemente, o capital, enquanto tal, não pode ser controlado nalguns dos seus aspectos, enquanto outros são deixados de lado. Todas as medidas e modalidades experimentadas para "controlar" as várias funções do capital de forma permanente, falharam. De acordo com a sua incontrolabilidade estrutural – que significa que não é concebível, dentro do quadro estrutural do sistema do capital, uma qualquer alavancagem que permita manter o próprio sistema controlado de forma duradoura – o capital deve ser completamente erradicado. Este é o sentido central do trabalho de Marx.
Nos nossos dias, a questão do controle – através de uma mudança estrutural que responda ao aprofundamento da crise estrutural – tornou-se urgente, não só no sistema financeiro, devido ao desperdício de biliões de dólares, mas em todos os sectores. Os mais importantes jornais financeiros capitalistas queixam-se de que "a China está sentada sobre três milhões de milhões de dólares em dinheiro", alimentando ilusões de que, através de um "melhor uso desse dinheiro", possa surgir uma solução. Mas a dura verdade é que o endividamento global crescente do capitalismo eleva-se a um valor dez vezes superior ao dos dólares "não usados" pela China. Para além disso, mesmo que o enorme montante da dívida pudesse ser eliminado de alguma forma, ainda que ninguém saiba dizer como, a verdadeira questão mantém-se: Como é que ele foi gerado e como podemos estar seguros que não o voltará a sê-lo no futuro? É por isso que a dimensão produtiva do sistema – nomeadamente a própria relação do capital – deve sofrer uma mudança fundamental no sentido de ultrapassar a crise estrutural através de uma mudança estrutural apropriada.
A dramática crise financeira que vivemos durante os últimos três anos é apenas um aspecto das três vertentes da destrutividade do sistema do capital:
Sartre está certamente bastante preocupado com o desafio que representa responder à questão de como aumentar "a consciência do carácter intolerável do sistema". Mas, como é inevitável notar, a própria base tida como condição vital para o sucesso de tal empresa – o poder da "consciência da alienação" sublinhado por Sartre – necessita fortemente de um suporte material. De outra forma, a ideia (mesmo deixando de lado a fraqueza da dita base e a sua circularidade auto-referencial) de que tal consciência "pode prevalecer face ao carácter intolerável do sistema" está condenada a ser posta de lado, como um ideal nobre, mas ineficaz. As declarações pessimistas de Sartre a propósito de necessidade de vencer a realidade materialmente e culturalmente destrutiva, mas solidamente estruturada, deste "conjunto miserável que é o nosso planeta", com as suas "horríveis, feias e más determinações, sem esperança", mostram que esta questão é problemática mesmo se vista do interior do sistema de representações sartriano.
Nesta medida, a questão primeira diz respeito à demonstrabilidade, ou não, do carácter objectivamente intolerável do sistema, pois se tal demonstração carecer de substância, como é proclamado pela noção de um "capitalismo avançado" capaz de satisfazer todas as necessidades materiais, com a mera excepção das "zonas marginais", então "o longo e paciente trabalho de construção da consciência" advogado por Sartre torna-se quase impossível. Este é o tal embasamento objectivo que é necessário (e actualmente pode) ser estabelecido dentro dos seus próprios termos de referência, e que requer a desmistificação radical do carácter cada vez mais destrutivo do "capitalismo avançado". A " consciência do carácter intolerável do sistema" só pode ser construída sobre este terreno material – que inclui o sofrimento causado pela incapacidade do capital "avançado" satisfazer mesmo as necessidades mais elementares nas suas "zonas marginais", o que é claramente demonstrado pelos motins alimentares que têm lugar em vários países – de forma a poder ultrapassar a dicotomia (postulada) entre a ordem cultural e a ordem natural.
Na sua fase ascendente, o sistema do capital pôde basear os seus feitos produtivos num dinamismo expansionista interno – sem ser ainda imperiosa uma orientação monopolista/imperialista que permita aos países mais avançados garantir militarmente o domínio do mundo. No entanto, na senda da circunstância historicamente irreversível que é a sua entrada numa fase produtiva descendente, o sistema do capital tornou-se inseparável de uma necessidade, cada vez mais intensa, de expansão militarista/monopolista e de uma distensão constante da seu quadro estrutural, tendendo, na sua lógica produtiva interna, para o estabelecimento criminoso e perdulário de uma "indústria do armamento permanente", que vai de par com as guerras que necessariamente se lhe encontram associadas.
Na verdade, ainda antes do despoletar da Primeira Guerra Mundial, Rosa Luxemburgo havia identificado claramente a natureza deste fatídico desenvolvimento monopolista/imperialista, rumo a uma orientação destrutivamente produtiva, ao escrever no seu livro A acumulação de Capital que: "O Capital em si mesmo controla, em última análise, o movimento rítmico da produção militar através do poder legislativo e da imprensa, cuja função é a de moldar a chamada "opinião pública". É por isso que esta região particular de acumulação capitalista parece, à primeira vista, capaz de uma expansão infinita." [10]
Por outro lado, a utilização cada vez mais perdulária de energia e de recursos materiais vitais e estratégicos, manifesta não apenas a articulação cada vez mais destrutiva das determinações estruturais do Capital no plano militar (através de uma manipulação legislativa da "opinião pública" que nunca é questionada, e muito menos regulamentada), mas também a cada vez maior usurpação da natureza. Ironicamente, mas de forma nada surpreendente, este momento do desenvolvimento histórico regressivo do sistema do Capital trouxe também consigo amargas consequências para a organização internacional do trabalho.
Com efeito, esta nova articulação do sistema do capital, iniciada no último terço do século XIX, com a sua fase imperialista monopolista intimamente ligada a um domínio global total, deu inicio a uma nova modalidade de dinamismo expansionista (ainda mais antagonista e, em última análise, insustentável), que dá lucros esmagadores a um punhado de países imperialistas privilegiados, e que, assim, adia o "momento da verdade", inseparável da irreprimível crise estrutural vivida pelo sistema nos nossos dias. Este tipo de desenvolvimento imperialista monopolista impulsionou inevitavelmente a possibilidade de uma acumulação e expansão capitalista militar, independentemente do preço a pagar pela destrutividade cada vez maior deste novo dinamismo, que assumiu já a forma de duas guerras mundiais devastadoras, bem como a da total aniquilação da humanidade implícita numa terceira guerra mundial, isto sem contar com a destruição da natureza, que se tornou evidente na segunda metade do séc. XX.
Hoje em dia, estamos a assistir ao aprofundamento da crise estrutural do sistema do capital. A sua destrutividade é visível em todo o lado, e não dá sinais de diminuir. Para o futuro, é crucial a forma como conceptualizamos esta crise, no sentido de encontrar uma solução. Pelo mesmo motivo, é também crucial reexaminar algumas das mais significativas soluções propostas no passado. Aqui não nos será possível mais do que mencionar, com uma brevidade estenográfica, os pontos de vista contrastantes que foram defendidos no passado e indicar a sorte que conhecem nos dias de hoje.
Em primeiro lugar, há que recordar que é mérito do filósofo liberal John Stuart Mill ter notado quão problemático poderia ser um crescimento capitalista infinito, consideração que o levou a propor como solução um "estado estacionário da economia". Naturalmente, um tal "estado estacionário" no quadro do sistema do capital não é mais do que uma ilusão, uma vez que é totalmente incompatível com o imperativo de expansão e acumulação do capital. Mesmo actualmente, quando tanta destruição é causada por um crescimento inadequado e pelas mais ineficazes utilizações dos nossos recursos energéticos e estratégicos vitais, a mitologia do crescimento constante é constantemente reafirmada, juntamente com a projecção ideal de uma "redução da pegada ecológica" em 2050, quando na realidade se está a seguir uma direcção completamente contrária a um tal objectivo. Assim, a realidade do liberalismo revelou-se ser a destrutividade agressiva do neoliberalismo.
Um destino semelhante teve a perspectiva social-democrata. Marx formulou claramente os seus receios acerca deste perigo na sua Critica do Programa de Gotha, mas eles foram totalmente ignorados. Também aqui a contradição entre a promessa Bernsteiniana de um "socialismo evolutivo" e a sua realização prática se revelou impressionante. E isto não apenas graças à capitulação dos partidos e governos sociais-democratas face ao engodo das guerras imperialistas, mas também através da conversão da social-democracia em geral – incluindo o "New Labour" britânico – a versões mais ou menos evidentes de neo-liberalismo, levando ao abandono não apenas do "caminho do socialismo evolutivo", mas de toda e qualquer promessa de reforma social significativa.
Para além disso, uma solução muito propagandeada, após a II Guerra Mundial, às desigualdades crescentes do sistema do capital, foi a difusão mundial do Estado Social. No entanto, a realidade prosaica deste alegado feito histórico é hoje em dia evidente, não só na total incapacidade para instituir o dito Estado Social onde quer que seja no chamado "Terceiro Mundo", mas através da liquidação, em curso, das conquistas relativas desse Estado Social do pós-guerra – nos campos da segurança social, saúde e educação – até mesmo nos poucos países privilegiados onde ele alguma vez chegou a ser instituído.
E, claro, não podemos ignorar a promessa (feita por Estaline e outros) de realizar a fase mais elevada do socialismo através da derrube e da abolição do capitalismo, pois, tragicamente, sete décadas após a Revolução de Outubro, os países da antiga União Soviética e da Europa de Leste vivem uma restauração do capitalismo na sua forma regressiva neoliberal.
O denominador comum de todas estas tentativas – apesar das suas diferenças fundamentais – é que todas elas tentaram alcançar os seus objectivos do interior do quadro estrutural da ordem metabólica social estabelecida. Todavia, como nos ensina a dolorosa experiência histórica, o nosso problema não é simplesmente "derrubar o capitalismo". Pois, mesmo que um tal objectivo possa ser alcançado numa determinada extensão, ele está condenado a ser um feito muito instável, visto que tudo o que é derrubado pode também ser restaurado. A verdadeira – e muito mais difícil – questão, é a da necessidade de uma mudança estrutural radical.
O significado tangível de uma tal mudança estrutural é a completa erradicação do capitalismo do processo social metabólico, ou, por outras palavras, a erradicação do capital do processo metabólico de reprodução societal.
O capital é em si mesmo um modo de controlo global; o que significa que ou ele controla tudo ou implode enquanto sistema de controlo societal reprodutivo. Consequentemente, o capital, enquanto tal, não pode ser controlado nalguns dos seus aspectos, enquanto outros são deixados de lado. Todas as medidas e modalidades experimentadas para "controlar" as várias funções do capital de forma permanente, falharam. De acordo com a sua incontrolabilidade estrutural – que significa que não é concebível, dentro do quadro estrutural do sistema do capital, uma qualquer alavancagem que permita manter o próprio sistema controlado de forma duradoura – o capital deve ser completamente erradicado. Este é o sentido central do trabalho de Marx.
Nos nossos dias, a questão do controle – através de uma mudança estrutural que responda ao aprofundamento da crise estrutural – tornou-se urgente, não só no sistema financeiro, devido ao desperdício de biliões de dólares, mas em todos os sectores. Os mais importantes jornais financeiros capitalistas queixam-se de que "a China está sentada sobre três milhões de milhões de dólares em dinheiro", alimentando ilusões de que, através de um "melhor uso desse dinheiro", possa surgir uma solução. Mas a dura verdade é que o endividamento global crescente do capitalismo eleva-se a um valor dez vezes superior ao dos dólares "não usados" pela China. Para além disso, mesmo que o enorme montante da dívida pudesse ser eliminado de alguma forma, ainda que ninguém saiba dizer como, a verdadeira questão mantém-se: Como é que ele foi gerado e como podemos estar seguros que não o voltará a sê-lo no futuro? É por isso que a dimensão produtiva do sistema – nomeadamente a própria relação do capital – deve sofrer uma mudança fundamental no sentido de ultrapassar a crise estrutural através de uma mudança estrutural apropriada.
A dramática crise financeira que vivemos durante os últimos três anos é apenas um aspecto das três vertentes da destrutividade do sistema do capital:
1. No campo militar, as intermináveis guerras que o capital tem gerado desde que surgiu, nas últimas décadas do séc. XIX, o imperialismo monopolista, e as ainda mais devastadoras armas de destruição massiva surgidas nos últimos sessenta anos.
2. A intensificação do impacto destrutivo do capital no domínio ecológico, que afecta directamente e põe em risco a base mais elementar da própria existência humana; e
3. No domínio da produção material, um desperdício cada vez maior, resultante do desenvolvimento de uma "produção destrutiva", que se substitui à anteriormente louvada, "destruição produtiva" ou "criativa"
Estes são os graves problemas sistémicos da nossa
crise
estrutural,
que apenas podem ser resolvidos através de uma
mudança estrutural
abrangente.
Como conclusão, gostaria de citar as últimas cinco linhas de Dialéctica da Estrutura e da História, , onde se lê:
Como conclusão, gostaria de citar as últimas cinco linhas de Dialéctica da Estrutura e da História, , onde se lê:
Notas"Naturalmente, a dialéctica histórica, por si só e em abstracto, não nos pode garantir um desfecho positivo. Esperar tal coisa seria renunciar ao nosso papel no desenvolvimento da consciência social, que é parte da dialéctica histórica. A radicalização da consciência social num sentido emancipatório é o que precisamos, mais do que nunca, para o futuro." [11]
1. "Breaking the US budget impasse," The Financial Times, June 1, 2011, http://ft.com
2. Ver a minha entrevista de 2009 ao Denate Socialista, republicada como "The Tasks Ahead," em The Structural Crisis of Capital (New York: Monthly Review Press, 2010), 173–202.
3. Esta citação é retirada da secção 18.2.1 de Beyond Capital (New York: Monthly Review Press, 1995), 680–82.
4. Entrevista de Sartre ao grupo italiano Manifesto publicada em: "Masses, Spontaneity, Party" in Ralph Milliband and John Saville, eds., The Socialist Register, 1970 (London: Merlin Press, 1970), 245
5. Ibid., 242
6. Ibid., 238-39
7. A gravidade deste problema não pode continuar a ser ignorada. Para nos apercebermos da sua magnitude, é suficiente citar um excerto de um excelente livro que nos dá uma visão global do desenvolvimento do processo de destruição da natureza, na medida em que ele resulta do ultrapassar de determinadas barreiras proibitivas traçadas pelas ciências do ambiente: "estes limiares já foram nalguns casos ultrapassados e, noutros, sê-lo-ão se se mantiver o curso actual do desenvolvimento económico. Para além disso, isto pode ser reconduzido, em todos os casos, a uma causa primeira: o padrão recorrente do desenvolvimento sócio-económico global, ou seja, o modo de produção capitalista e as suas tendências expansionistas. O problema pode ser designado, em termos globais, como "brecha ecológica global", se nos referirmos à quebra generalizada da relação humana com a natureza que nasce de um sistema alienado de acumulação capitalista infinita. Tudo isto sugere que o uso do termo Antropoceno para descrever uma nova era geológica, que se substitui ao Holoceno, é simultaneamente a descrição de um novo fardo sobre os ombros da Humanidade e o reconhecimento de uma crise imensa – um acontecimento potencialmente terminal na ordem da evolução geológica, que poderá destruir o mundo tal como o conhecemos. Por um lado, tem-se verificado uma grande aceleração do impacto humano no sistema planetário desde a revolução industrial e, mais particularmente, desde 1945 – ao ponto de os ciclos bio-geo-químicos, a atmosfera, o oceano e o sistema terrestre como um todo já não poderem ser vistos como impermeáveis à actividade económica humana. Por outro lado, o curso actual dos acontecimentos não poderá tanto ser descrito como o aparecimento de uma nova era geológica estável (o Antropoceno), mas mais propriamente como um Holoceno terminal, ou, mais sinistramente, como um fim do Quaternário, o que é uma forma de nos referirmos às extinções em massa que geralmente separam as eras geológicas. Os limites e pontos de ruptura planetários, que levam à degradação das condições de vida na Terra, podem ser alcançados dentro em breve, diz-nos a ciência, se se prosseguir o rumo actual. O Antropoceno pode ser o separador mais breve, um momento rapidamente aniquilado na linha do tempo geológico." John Bellamy Foster, Brett Clark and Richard York, The Ecological Rift: Capitalism's War on the Earth (New York:Monthly Review Press, 2010), 18-19.
8. Ver a minha conferência em memória de Isaac Deutscher The Necessity of Social Control na London School of Economics em 26 de Janeiro de 1971.Reeditada em Beyond Capital, 872-97.
9. Sartre, 239
10. Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital (London: Routledge, 1963), 466
11. István Mészáros, Social Structure and Forms of Consciousness, vol. 2: The Dialectic of Structure and History (New York: Monthly Review Press, 2011), 483
[*] Professor emérito na Universidade de Sussex, onde ocupou durante 50 anos a cátedra de Filosofia. O seu livro, Marx's Theory of Alienation, foi galardoado com o Isaac Deutscher Prize em 1970. É também autor de Beyond Capital, Socialism or Barbarism. The Structural Crisis of Capital, The Challenge and the Burden of Historical Time (vencedor do Premio Libertador al Pensamiento Crítico de 2008) e de Social Structure and Forms of Consciousness (2 vol.) – todos eles publicados pela Monthly Review Press . Esta comunicação foi apresentada no Brasil em Junho de 2011 e na Conferência Marxism 2011, em Londres, em Julho do mesmo ano.
O original encontra-se em http://monthlyreview.org/2012/03/01/structural-crisis-needs-structural-change .
Tradução de Miguel Queiroz e Inês Félix.
Este artigo encontra-se em http://resistir.info/ .


