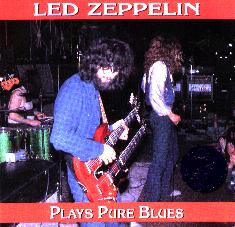Como a Opus Dei retoca sua imagem
Camino 999… Não há o que discutir, o título é eficiente. Jean-Jacques Reboux, fundador e diretor da editora Après la Lune, não esconde sua satisfação, quase um ano após o lançamento do livro [1]. “Estávamos tentando imaginar um título para o romance e este surgiu de repente”, diz. “Camino 999 faz referência direta ao mais conhecido livro de José-Maria Escrivá de Balaguer, o fundador da Opus Dei. Tal obra, de instrução religiosa, contém 999 sentenças. Se você virar os algarismos de cabeça para baixo, obterá 666, o número da Besta, tal como ele aparece no Apocalipse. Para um romance policial, é uma solução bastante divertida”.
Talvez seja isso que, na primavera de 2007, chamou a atenção da Opus Dei para o romance de Catherine Fradier, uma autora conhecida no meio da literatura policial de língua francesa. De outra forma, sua notoriedade não alcançaria os escritórios dessa organização da Igreja Católica, que conta com 80 mil integrantes em todo o mundo e em nada se assemelha a um clube literário. Camino 999 apresenta uma imagem particularmente pouco lisonjeira da Opus Dei. Nele, a confraria aparece como uma organização mafiosa que não hesita em recorrer ao assassinato para proteger seus negócios. Citados em juízo pela Prelazia da Opus Dei na França -– que criticava o romance por ele misturar elementos reais (nomes de dirigentes, por exemplo) com ficção e por ser, supostamente, difamatório —, Catherine Fradier e Jean-Jacques Reboux não foram condenados. A citação foi declarada nula pelos magistrados do Tribunal de Grande Instância de Paris.
“O caso não foi julgado em sua substância”, lamenta Arnaud Gency, um numerário [2] da Opus Dei, responsável pela comunicação da Prelazia na França. “De uma forma ou de outra, as pessoas precisam compreender que não dá mais para continuar dizendo qualquer coisa a nosso respeito”. Para bom entendedor…
Excetuada a Companhia de Jesus, nenhuma organização católica jamais suscitou tantas publicações de livros, panfletos, artigos ou reportagens acusadoras quanto a Opus Dei [3]. A lista das queixas tradicionalmente formuladas a seu respeito coincide mais ou menos com a de todas as torpezas imagináveis: manipulação mental; crueldade psicológica para com os integrantes [4]; rigidez intelectual; sadomasoquismo; atividades de lobby, de inspiração fascista, fundamentalista ou ultraliberal, conforme o caso; infiltração nos núcleos do poder eclesiástico, político ou econômicos, com objetivos escusos; e por aí vai.
A própria discrição da organização contribuiu para alimentar esse fascínio. Até 1982, ano no qual o papa João Paulo II elevou a Opus Dei à classe de “prelazia pessoal”, os seus membros eram convidados a não revelar o culto ao qual pertenciam. Contudo, segundo os estatutos, a Opus Dei só visa ajudar seus fiéis a se santificarem “na vida ordinária” por meio do “exercício das virtudes cristãs”. É no meio do mundo, em particular no âmbito do trabalho, considerado uma verdadeira prece, que os fiéis devem supostamente viver a “espiritualidade laica”, que faz a especificidade da Obra.
A beatificação de Escrivá marca a mudança. Acuado por uma onda de críticas, a Opus Dei descobre a comunicação
Nesse contexto de segredo, a denúncia do suposto pertencimento de personalidades públicas à Opus Dei é freqüente. Além disso, na França, os participantes de discussões públicas realizadas em locais administrados pela Obra podem seguir carimbados durante anos com a etiqueta “Opus Dei” ou “ligado à Opus Dei”. Desta maneira, foram “opucizados” os grandes empresários Claude Bébéar, Didier Pineau-Valencienne e Louis Schweitzer (um protestante!).
Na verdade, embora existam exemplos famosos de ministros, altos-funcionários ou empresários membros da Obra [5], o fato de ocupar um cargo de poder e de professar ao mesmo tempo um catolicismo intransigente não constitui em si uma evidência de pertencimento à Opus Dei.
Por muito tempo, a Obra permitiu que sua “lenda negra” ganhasse corpo, dando a impressão de não se preocupar em demasia com isso. Inscrevendo-se em uma cultura católica marcada pela desconfiança em relação à mídia e pela ojeriza à propaganda (salvo a recente e notável exceção de João Paulo II, que foi um mestre na matéria), a Prelazia mantinha um serviço mínimo em matéria de comunicação. No entanto, no intervalo de uma dezena de anos, a organização operou uma verdadeira revolução nesse campo. “É um princípio básico da comunicação institucional: se você mesmo não disser quem é, outros falarão em seu lugar e dirão quem você não é. Nós talvez não estivéssemos suficientemente conscientes disso no passado”, explica Arnaud Gency.
Tudo começou em 1992, quando a beatificação do fundador da Obra, Escrivá de Balaguer, revelou-se bastante difícil, ao menos no plano da mídia [6]. As reações hostis se multiplicaram. No interior da Igreja, era muito difícil encontrar bispos que apoiassem ativamente a iniciativa. Enquanto a polêmica ganhava força, os serviços de comunicação da Obra limitavam-se a contatar alguns jornalistas para lhes oferecer informações sobre a vida e a obra de Escrivá — com efeito quase nulo. O grande público seguia informado por meio de artigos e reportagens em geral muito críticos. “Nós permanecíamos na defensiva. Avaliando os fatos, concluímos que precisávamos dar mostras de muito mais profissionalismo”, admite Juan Manuel Mora, diretor de comunicação da Obra de 1991 a 2006.
A Opus Dei dispunha, então, de amplas reservas de competências, as quais incluíam comunicadores, jornalistas e professores, além de pesquisadores da Faculdade de Comunicação da Universidade de Navarra, fundada pela organização em 1952. Uma nova estratégia passou a ser implementada, baseada no conceito de “pró-atividade”: comunicar antes que as polêmicas fossem deflagradas.
Como reação ao Código Da Vinci, uma completa estratégia de assessoria de imprensa e marketing
Essa técnica foi utilizada na campanha de imprensa em torno da canonização do fundador, anunciada para 2002. A Opus Dei contatava os jornalistas com grande antecedência, oferecendo-lhes informações detalhadas, desdobrando-se em amabilidades nas relações pessoais e tentando algumas “operações portas abertas”, nas quais franqueava para o público seus centros e residências. A estratégia mostrou-se altamente eficaz. A polêmica a respeito do fundador continuou, mas sua intensidade nada tinha a ver com aquela de 1992 e dos anos seguintes.
Além disso, no âmbito da Igreja, a Opus Dei também contava com uma conjuntura favorável. No curso de dez anos, o catolicismo progressista perdeu uma ampla fatia de sua audiência. No período anterior, eram os católicos progressistas que, na maioria dos casos, alimentavam a imprensa com informações. Com o seu silenciamento, pela cúpula do Vaticano, o campo ficou livre para os conservadores [7]. Por fim, a canonização do fundador, que equivale a uma espécie de certificado de garantia, tornou mais difíceis as críticas à instituição no seio do catolicismo. Elas existem até hoje, mas emanam das margens da Igreja ou são proferidas de maneira discreta.
Portanto, a “opinião pública” já estava bastante “amaciada” quando desabou o temporal representado pelo Código Da Vinci, o romance de Dan Brown, publicado em 2003 pela editora Doubleday. Num primeiro momento, a Prelazia limitou-se a atender a todos os pedidos de informação, esforçando-se por evitar polêmicas. Porém, a adaptação do romance para o cinema, realizada pela Sony Pictures, obrigou a Obra a adotar uma estratégia de crise. As decisões foram tomadas em 10 de janeiro de 2006, por ocasião de uma reunião, em Roma, dos responsáveis pelos centros de informação da Opus Dei em Nova York, Londres, Paris, Madri, Colônia, Montreal e Lagos. Nela, os participantes falaram em transformar “os limões em limonada” [8].
No mundo inteiro, os serviços de comunicação passaram a dar mostras de um empenho redobrado, respondendo a praticamente todas as solicitações da mídia. E afinaram o seu elenco de argumentos para fazer frente a perguntas que, de modo quase sistemático, giravam em torno da “lenda negra”, retomada pelo best-seller de Dan Brown . A Opus Dei não demorou a disponibilizar seu novo site na Internet, com conteúdo traduzido em 22 línguas, e que o escritor Umberto Eco chegou até mesmo a recomendar, quando se cansou das constantes indagações que eram feitas a respeito da veracidade do Código Da Vinci [9]. Os principais veículos da imprensa dedicaram dossiês à organização e, em certos casos, até reportagens de capa (Time, Le Figaro Magazine etc). As televisões entraram nas “residências” que organizavam jornadas de “portas abertas para o público”.
A imagem que Dan Brown oferece da Opus Dei é certamente grotesca. Mas, como a organização estava muito bem preparada para a tempestade, esta lhe permitiu virar o jogo a seu favor. “O Código Da Vinci acabou sendo um ótimo negócio para a Opus Dei”, avalia Christian Terras, diretor da revista católica progressista Golias. “O livro lhe permitiu reabilitar sua imagem, comunicando detalhes saborosos para os meios de comunicação, embora estes, em sua maioria, fossem perfeitamente secundários”.
A Opus Dei combina um corpo doutrinário conservador com elementos decididamente modernos. Isso costuma desorientar os observadores
Um único exemplo basta para provar a afirmação: um dos protagonistas mais sinistros do romance tem por nome Silas. Trata-se de um albino psicopata, apresentado como “monge da Opus Dei”, a serviço dos chefes da organização. Primeiro, us Dei, o verdadeiro, explicou que não existiam monges na organização — o que é correto. Depois, apresentou para o público um extra-numerário cujo nome era exatamente Silas, igual ao do assassino do romance. Tratava-se de um pacífico pai de família, corretor na Bolsa de Nova York, e de origem nigeriana, portanto negro. Evidentemente, os meios de comunicação se deliciaram com essa brincadeira visual, tornando a imagem da Opus Dei muito mais simpática.
"Não sei sesomos bons", diz, sorrindo modestamente, Manuel Sanchez, numerário responsável pelas relações com a imprensa internacional, no birô de informação da Opus Dei. "Mas parece claro que acumulamos uma certa experiência". Esta tem sido colocada a serviço de toda a Igreja Católica. Em Roma, a Pontifícia Universidade da Santa Cruz, que depende diretamente da Opus Dei, abriga quatro faculdades: teologia, filosofia, direito canônico e comunicação institucional. Esta última é a única do gênero no mundo universitário católico. Forma especialistas para as conferências episcopais nacionais, dioceses e de outras instituições da Igreja. Os estudantes, que em sua maioria não são membros da organização, afluem do mundo inteiro para ter acesso às técnicas mais avançadas na área. Além de preparar quadros altamente competentes, a instituição funciona como uma vistosa vitrine da Obra, emprestando-lhe um ar moderno de absoluta normalidade.
De fato, a Opus Dei combina um corpo doutrinário conservador com elementos decididamente modernos. E isso pode desorientar os observadores. Ao contrário de vários expoentes do catolicismo fundamentalista, Escrivá levou a sério – para melhor dominá-lo – o movimento geral de secularização e de autonomização da sociedade. Ao preconizar, por exemplo, a santificação por meio do trabalho na vida cotidiana, ele rompeu com a idéia, enraizada no imaginário católico, de que os padres e freiras, em função de sua total disponibilidade para as coisas da religião, ocupavam uma posição melhor do que os outros na corrida rumo ao Reino de Deus [10]. Mas essa “democratização da santidade” jamais ameaça a supremacia clerical na organização. São mesmo os padres que ocupam os postos de comando, enquanto os numerários cuidam principalmente da formação dos seguidores. Ao mesmo tempo, o enquadramento espiritual rigoroso ao qual se submetem os seus membros (missa cotidiana, recitação do rosário, exame de consciência, confissão semanal, retiro mensal etc.) limita drasticamente os riscos de desvios libertários.
A Opus Dei é acusada de ter como objetivo fundamental o controle das esferas de poder. Mas sua real influência na sociedade é muito difícil de dimensionar, uma vez que os responsáveis afirmam não dispor de estatísticas sobre a condição sócio-profissional dos integrantes. No entanto, é notório o seu interesse por certos meios intelectuais e o seu empenho na formação dos membros. Quem quer se tornar numerário deve ter diploma universitário e os padres da organização são incentivados a obter o doutorado. Além disso, a Obra administra um grande número de residências estudantis – locais evidentemente propícios para o recrutamento.
Como Bento XVI quer afirmar a Igreja frente aos “perigos do relativismo”, a Obra parecem estar cada vez mais em sintonia com o catolicismo dominante
Nos anos do pontificado de João Paulo II, multiplicaram-se as nomeações de membros da Opus Dei para a Cúria Romana e os episcopados, especialmente os da América Latina. A esse respeito, a entrega do serviço de imprensa do Vaticano ao numerário Joaquin Navarro-Vals foi emblemática. Nomeado em 1984, ele permaneceu por 22 anos no cargo. Tal posição não deve ser encarada como um trunfo pessoal, pois, como afirma Giovanni Avena, diretor da agência de informação religiosa Adista, a coerência doutrinal dos membros da Opus Dei é muito grande: “Encontramos entre os jesuítas, entre os franciscanos e entre os integrantes de outras ordens, um amplo leque de opiniões ou de opções teológicas, que abrange desde o progressismo mais irrequieto até o tradicionalismo. Não é o caso da Opus Dei, que formata teologicamente seus membros”.
As relações entre a Opus Dei e o regime franquista espanhol (1939-1975) foram profundas e duradouras [11]. E tal experiência funcionou como uma espécie de incubadora ideológica da organização. No âmbito desse sistema ditatorial, os membros mais influentes da Obra, vários deles ministros de primeiro plano, atuaram como tecnocratas, impulsionando uma modernização econômica de tipo liberal, na qual a Obra se encontra perfeitamente à vontade, e não uma teocracia totalitária, tal como a fantasiava a Falange. Esse perfil se mantém atualmente nos Estados Unidos, onde, em média, os membros da organização se mostram mais inclinados aos projetos da direita clássica do que aos da extrema-direita.
A verdade é que o enquadramento ideológico que vem ocorrendo na Igreja desde os primeiros anos do pontificado de João Paulo II (1978-2005) contribui para a relativa normalização da imagem da Opus Dei entre os católicos e, por extensão, junto ao restante do grande público. No momento em que, de acordo com Bento XVI, a prioridade da instituição diz respeito à afirmação identitária frente aos “perigos do relativismo”, as teses da Obra parecem estar cada vez mais em conformidade com a vertente dominante no catolicismo.
[1] Catherine Fradier, Camino 999, Paris, Après la Lune, 2007
[2] A Opus Dei reúne tipos diversos de membros. Os “extra-numerários” (cerca de 70%) são, em sua maioria, casados e levam uma vida familiar que, embora muito marcada pela prática religiosa intensa, não deixa de ser similar àquela da população conservadora dos países em que vivem. Os “numerários” e os “agregados” (designações que depeno Opdem do fato de a pessoa viver ou não nos centros da Obra) comprometem-se ao celibato, mas não pronunciam votos como os religiosos. Finalmente, há também os padres (2%). Alguns padres diocesanos não são diretamente integrantes da Opus Dei, mas filiados à Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, que dele depende.
[3] François Normand, “La troublante ascension de l’Opus Dei”, Le Monde Diplomatique, edição francesa setembro de 1995.
[4] Sobre este assunto, ler, por exemplo, Véronique Duborgel, Dans l’enfer de l’Opus Dei (Paris, Albin Michel, 2007), o testemunho de uma antiga integrante da Obra.
[5] Isso ocorre especialmente na Espanha e na América do Sul. No Reino Unido, Ruth Kelly, a atual ministra dos Transportes do governo trabalhista de Gordon Brown, não faz mistério do fato de ser uma integrante extra-numerária da Opus Dei.
[6] Beatificado em 1992, Escrivá foi canonizado por João Paulo II em 2002. Os processos de beatificação e canonização, que em geral se arrastam por um tempo extremamente longo, transcorreram com surpreendente rapidez, no caso do fundador da Opus Dei, suscitando desconfianças e protestos. Falou-se, na época, que a organização salvara as finanças do Vaticano depois da falência fraudulenta do Banco Ambrosiano e que, como retribuição, o papa atendera a várias de suas demandas. A afirmação é contestada por simpatizantes da Obra [nota da edição brasileira impressa].
[7] Vale lembrar o cerceamento imposto ao teólogo brasileiro Leonardo Boff pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, então dirigida pelo cardeal Joseph Ratzinger, hoje papa Bento XVI. Em 1985, Boff, um dos nomes mais respeitados da Teologia da Libertação, foi condenado a um ano de “silêncio obsequioso”, perdendo sua cátedra e suas posições editoriais em instituições católicas. Em 1986, recuperou algumas funções, mas novas pressões levaram-no a abrir mão do sacerdócio, em 1992. Livre das amarras, continua escrevendo e ensinando. É autor de mais de setenta livros e integrante do Conselho Editorial de Le Monde Diplomatique Brasil, edição impressa. Publicou o artigo “Teologia da Libertação: viva e atuante”, no segundo número deste períodico (setembro de 2007) [nota da edição brasileira].
[8] Todos os detalhes dessa estratégia, explicados por alguns de seus idealizadores, podem ser encontrados em Marc Carrogio, Brian Finnerty e Juan Manuel Mora, “Three years with the Da Vinci Code”, em Direzione strategica della communicazione nella Chiesa: nuove sfide, nuove proposte, Roma, EDUSC, 2007.
[9] L’Espresso, 30 de julho de 2005.
[10] Até hoje, as beatificações e canonizações da Igreja católica dizem respeito, quase que exclusivamente, a religiosos e religiosas.
[11] Os primeiros opucianos incorporados à cúpula do regime franquista (Mario Navarro Rubio, ministro das Finanças e Alberto Ullastres, ministro do Comércio) passaram a exercer suas funções em 1957. Segundo diferentes estimativas, até a queda da ditadura, em 1975, de oito a doze ministros espanhóis foram membros da Opus Dei.
Original em: www.diplo.com.br