| Valéria Nader, da Redação do Correio da Cidadania | |
|
A versão do Estatuto da Igualdade Racial recém aprovada pelo Senado
foi bastante discutida nas últimas semanas. Tratando-se de um daqueles
temas amplamente abordados tanto pelos grandes veículos de comunicação,
como também por aqueles menores, mais alternativos e com um viés à
esquerda, nem por isso as opiniões suscitadas são capazes de consolidar
um entendimento mais fundamentado de questão tão complexa.
Deparamo-nos os leitores, essencialmente, com a visão daqueles que
defendem as políticas afirmativas de inclusão, em contraposição àqueles
que não as vêem como positivas, na medida em que reforçariam a
‘racialização’ da sociedade brasileira. A defesa das cotas para negros
em universidades é o tópico em que se concentram os maiores esforços dos
primeiros, como forma de se contrapor minimamente às injustiças
históricas e arraigadas em um país de passado colonial e escravocrata.
Os críticos à racialização não têm, por sua vez, espaço amplo e
diversificado o suficiente para a apresentação de seus argumentos,
O historiador Mário Maestri, entrevistado especial do Correio,
amplifica os termos desse debate, tomando-o a partir da atual sociedade
capitalista, uma sociedade dividida entre as classes ligadas ao capital e
ao trabalho, e na qual se desenvolvem as relações sociais e as relações
de produção. O historiador alerta para que as discussões estão sofrendo
pesada influência das forças do capital, deixando na ‘penumbra a
diferença de qualidade entre a luta anti-racista e a proposta da luta
pela igualdade racial’.
Ainda segundo Maestri, para a ideologia da igualdade racial não
haveria mal na existência de opressores e oprimidos, desde que ambos os
segmentos se caracterizassem pelo equilíbrio étnico. Confira entrevista
exclusiva a seguir.
Correio da Cidadania: Qual a importância da discussão sobre a
igualdade racial e do Estatuto da Igualdade Racial, para regulamentá-la?
Mario Maestri: Trata-se de debate fundamental, até agora dominado
pelas forças do capital e sofrendo sua influência, que tem mantido na
penumbra a diferença de qualidade entre a luta anti-racista e a proposta
da luta pela igualdade racial. O anti-racismo é luta democrática contra
a discriminação na escola, no trabalho, na educação etc. É parte da
luta geral, no aqui e no agora, contra os exploradores, pela extinção da
sociedade de classes, base das opressões econômica, nacional, sexual,
étnica etc. A luta anti-racista é parte do programa do mundo do
trabalho, é mobilização democrática, progressista, revolucionária.
A proposta de igualdade racial propõe a existência de raças diversas,
que devem ser igualadas no que se refere ao tratamento e, sobretudo, às
oportunidades no seio da sociedade atual. Por além de eventual retórica
radical e apesar do indiscutível unitarismo da espécie humana, recupera e
trabalha com o conceito medonho de raça e reduz a opressão social à
opressão racial de negros por brancos. É programa regressista e
conservador, parte das estratégias do capital contra o mundo do trabalho
e seu programa.
A proposta de igualdade racial avança essencialmente no combate às
desigualdades de oportunidade. Denuncia o tratamento, no melhor dos
casos, igual, dos desiguais. Através da discriminação positiva, os
discriminados negativamente concorreriam em igualdade com os
privilegiados, estabelecendo-se, assim, a justiça social. Nos fatos,
naturaliza e recupera positivamente a competição social, pilar essencial
da retórica capitalista. Para essa ideologia, não há mal em haver
opressores e multidões de oprimidos. Desde que exista equilíbrio étnico
nos dois segmentos!
A África do Sul é exemplo patético e cada vez mais gritante dessa
política. Durante décadas, o apartheid serviu para a dura exploração das
terras e dos braços negro-africanos. Por isso, o movimento de
libertação articulava corretamente a luta contra o racismo e contra a
exploração capitalista. Com a derrota mundial dos trabalhadores em fins
dos anos 1980, a direção do CNA (Congresso Nacional Africano) terminou
aceitando substituir a já superada elite racista na gerência da
exploração das massas negras sul-africanas.
No governo pós-apartheid, mantiveram-se as relações de propriedade e de
exploração, ou seja, econômico-sociais, sob gestão de classe política e
lumpén-burguesia negro-africana, a serviço do capital e do imperialismo.
O fim do apartheid estabilizou a opressão de classe, a tal ponto que o
país acolhe hoje uma Copa do Mundo, sendo apresentado como exemplo a ser
seguido!
A miséria e a opressão dos trabalhadores e populares sul-africanos
seguiram aprofundando-se, sob a batuta de políticos negro-africanos tão
corruptos e venais como os brasileiros. Atualmente, eles se preocupam,
essencialmente, em formar uma classe média negra, para maior
estabilização da nova ordem!
Correio da Cidadania: Qual a sua opinião sobre as cotas
universitárias, o principal e mais discutido tópico de reivindicações do
movimento negro?
Mario Maestri: A proposta de igualdade racial e discriminação
positiva (cotas estudantis) não se preocupa com as multidões de jovens
negros (pardos, brancos etc.) marginalizados em diversos graus pelo
capitalismo. Pretende sobretudo conquistar equilíbrio racial entre os
privilegiados. De certo modo, é como se propusesse colocar pesos nos
corredores brancos, esguios, para igualá-los aos negros, mais pesados,
devido a handicaps sociais históricos. Equilibrando-se as desigualdades,
os vencedores serão os mais capazes.
O problema é que essa corrida premia os cem primeiros chegados e
marginaliza os 9.900 perdedores, em diversos graus. O que importa é
conquistar equilíbrio racial entre os cem laureados. Uma proposta que
sequer vislumbra a possibilidade e necessidade de se pôr fim à
competição canibal, para que todos sejam vencedores, segundo seus
esforços, capacidades e necessidades. Trata-se de mobilização por um
mundo de exploradores e de explorados sem diferenças raciais, desde que
no paraíso dos privilegiados e opressores haja vagas cativas para
privilegiados e opressores negros.
Estudar nas melhores universidades, em geral públicas, é privilégio de
pequena minoria de jovens, principalmente brancos ou quase brancos. A
política cotista promete que, um dia, nessa minoria de felizardos,
haverá um número proporcional de negros. O que já é uma falácia, pois a
base da desigualdade social apóia-se essencialmente na posse e no
domínio da propriedade. A proposta cotista despreocupa-se com as
multidões de jovens marginalizados – em forte proporção, negros. O
fundamental é mais generais, advogados, médicos, engenheiros,
farmacêuticos, capitalistas negros. Todos ferrando a população
trabalhadora, branca e negra, como fazem normalmente os congêneres
brancos.
As principais justificativas dessa proposta são duas. A primeira é que,
enquanto não chegamos a uma sociedade justa (socialismo), há que
melhorar a realidade na sociedade capitalista. O problema é que essa
proposta correta justifica o incorreto abandono da luta, no aqui e no
agora, do ensino universal, gratuito e de qualidade, parte do programa
democrático – e não socialista. Esse programa inarredável das classes
populares foi imposto, substancialmente, pelo mundo da democracia e do
trabalho, em países como a Alemanha, a França, a Bélgica, a Itália, a
Suécia etc., todas sociedades capitalistas!
A segunda justificativa é que o Brasil não teria recursos para garantir
esse privilégio para todos. Defendendo o programa cotista, Valério
Arcary, intelectual pró-cotista, afirmou, sem enrubescer, que sequer um
"governo dos trabalhadores, pelo menos nas fases iniciais da transição
ao socialismo, num país como o Brasil, poderia garantir acesso
irrestrito ao ensino superior para todos "! O governo brasileiro entrega
bilhões a banqueiros e capitalistas, nacionais e internacionais, mas
não tem os meios para implementar programa cumprido por Cuba, um país
pobre, literalmente desprovido de recursos naturais e de capitais!
Correio da Cidadania: Dessa forma, a quem interessa a política de
igualdade racial e as propostas de discriminação positiva na escola,
partidos, serviço público etc., rejeitadas pelo Senado quando da
aprovação do Estatuto da Igualdade Racial?
Mario Maestri: Por primeiro, interessa ao capital, grande
responsável pela defesa, propaganda e impulsão dessa política nos EUA,
em fins dos anos 1950. Ela foi consolidada, como política de manipulação
da questão racial, após a repressão geral e não raro massacre físico da
vanguarda negra classista e revolucionária estadunidense, nos anos 1960
e 1970. Ela começou a ser introduzida no Brasil pela Fundação Ford,
entre intelectuais negros, nos anos 1980. Não é por nada que a senhora
Hillary Clinton, em recente viagem ao Brasil, na única atividade não
oficial, foi prestigiar essas políticas em faculdade brasileira
organizada a partir de critérios raciais.
Mas qual foi e é o resultado das cotas nos EUA? No frigir dos ovos, meio
século após a implantação da política cotista, a droga e sobretudo o
cárcere são a solução prioritária para a questão negra estadunidense. Os
EUA, com 5% da população mundial, possuem 20% dos prisioneiros. Deles,
50% negros! No país mais rico do mundo, com recursos inimagináveis, o
jovem negro acaba normalmente nos braços da droga e da prisão e
raramente em universidade e emprego razoáveis.
E, apesar disto, o Estatuto da Igualdade Racial propõe nada menos que o
Brasil esteja, "no mínimo, meio século atrás dos Estados Unidos em
matéria de cidadania para o povo negro"! Isso porque, ali, o fundamental
para essa política foi atingido – temos presidente, alguns generais,
médicos, diplomatas, capitalistas etc. negros.
A política cotista é estratégia do grande capital, pois prestigia e
naturaliza a ordem capitalista; nega a luta social e de classes; procura
dividir os trabalhadores e oprimidos por cor e raça; fortalece a base
social da sociedade opressora. E tudo isso, em geral, sem custos ao
Estado.
A política de escola pública, gratuita e de qualidade exige
investimentos, que são feitos onde ainda dominam os princípios
democráticos e republicanos dos serviços públicos básicos universais. Ao
contrário, a política cotista não exige que o Estado gaste um real, ao
destinar 30%, 60% ou 90% das vagas das universidades públicas – dos
cargos federais, postos de trabalho etc. – para negros, índios, mulheres
etc. O Estado não gasta nada, pois são investimentos já feitos. Só
redistribui os privilégios e as discriminações.
E, com as políticas cotistas, além dos dividendos político-ideológicos, o
Estado classista, prestigiado, vê cair a luta e a pressão popular pela
extensão desses serviços. Ao igual que nos EUA. Não é por nada,
portanto, que as atuais lideranças do movimento negro cotista não exigem
ensino público, livre e gratuito universal. E imaginem só a saia justa
do governo, do Estado e do capital, se a juventude popular e
trabalhadora, como um todo, tomasse as ruas, exigindo ensino universal,
público e de qualidade! Se não obtivessem tudo que pedissem na primeira
vez, levariam certamente muito.
As propostas de igualdade entre as raças, na ordem capitalista,
interessam também a certo tipo de liderança negra. Defendendo as
políticas do capital de racialização da sociedade, inserem-se no jogo da
representação política e institucional, sendo por isso gratificada
econômica, social e simbolicamente. Não creio que tenha sido estudada a
gênese-consolidação dessa representação étnica nascida à sombra do
Estado, fortemente impulsionada durante os governos Lula da Silva. Porém, mutatis mutandis,
não parece ser processo diverso do ocorrido com as representações
sindicais e populares cooptadas pelo Estado, após a enorme derrota dos
trabalhadores de fins dos anos 1980.
Finalmente, essas políticas interessam a segmentos médios e médio-baixos
negros. É segredo de Polichinelo que as políticas de cotas privilegiam
sobretudo os segmentos negros relativamente mais favorecidos, em
detrimento dos trabalhadores e marginalizados de mesma origem. O filho
do professor negro vence o filho do pedreiro negro, na disputa de uma
cota. Ao igual do que ocorre com filho do engenheiro branco, ao disputar
com o do zelador de mesma cor no vestibular. Ainda que, em bem da
verdade, os filhos dos zeladores e dos pedreiros sequer sonhem com um
curso universitário.
Correio da Cidadania: E quem está contra o Estatuto da Igualdade Racial?
O que você pensa da participação do senador Demóstenes Torres na
relatoria desse projeto, após declarações preconceituosas sobre a
escravidão e a opressão aos negros?
Mario Maestri: No Brasil, a oposição às políticas de igualdade
racial tem duas grandes vertentes, essencialmente opostas (com posições
intermediárias, é claro). A vertente minoritária, com escasso espaço na
mídia e no debate, é formada por um punhado de intelectuais, ativistas,
sindicalistas, lideranças sociais etc., negros e brancos, de tradição
republicana, democrática, socialista e revolucionária. Em geral, ela
expressa, direta ou indiretamente, os interesses do mundo do trabalho e,
portanto, da grande população trabalhadora e marginalizada negra,
discriminada e esquecida pelas propostas retóricas de igualdade racial.
Essa vertente mobiliza-se pela luta anti-racista e pelos direitos
democráticos gerais, no aqui e no agora, sem qualquer exceção e
privilégios.
A vertente majoritária, com grande presença na mídia, formada sobretudo
por políticos, jornalistas, intelectuais, é impulsionada por
preconceitos elitistas, racistas e corporativistas. É formada
essencialmente por brancos e alguns oportunistas não-brancos. O senador
Demóstenes Torres é representante exótico desta corrente, assim como,
por exemplo, o jornalista Ali Kamel constitui defensor refinado das
mesmas visões.
A primeira vertente, ao refletir, direta ou indiretamente, o mundo do
trabalho e seu programa, tem consciência das conseqüências dramáticas
das propostas de racialização da sociedade brasileira para a luta e as
conquistas sociais e para a própria organização e convivência nacionais.
A segunda representa os setores sociais médios brancos em parte
deslocados por essas políticas, em favor dos setores da classe média e
médio-baixa negra, como proposto.
No último caso, trata-se de defesa conservadora de privilégios das
classes médias brancas, contra as políticas raciais conservadoras do
grande capital, despreocupado no geral com aqueles segmentos. Trata-se
de um movimento em algo semelhante à resistência final dos racistas
sul-africanos, quando o capital decidira a entronização da nova classe
política negro-africana. Resistência que se mantém até hoje em forma já
residual na África do Sul. Não devemos esquecer que o capital não tem
cor. Historicamente, ele se serve do racismo para impor sua dominação e
obter super-exploração. Porém, quando necessário, ferra sem dó os
segmentos racistas.
Correio da Cidadania: O Senado retirou do projeto a obrigatoriedade do
registro da cor das pessoas nos formulários de atendimento do SUS,
considerado por muitos como o retrocesso maior, já que os índices
referentes à saúde da população negra denunciariam fortemente a
discriminação racial.
Mario Maestri: É enrolação estatística dizer que os negros, por
serem negros, são mais desfavorecidos que os brancos, por serem brancos,
por exemplo, no relativo à saúde. Comparemos os engenheiros negros e os
pedreiros brancos. Nesse caso, a saúde dos brancos é certamente pior do
que a dos negros. E se cotejarmos a saúde dos médicos brancos à dos
médicos negros certamente ela será, no geral, idêntica.
O fato de que há maioria de negros entre as classes exploradas e maior
número de brancos entre os privilegiados determina diferença social que
pode ser percebida artificialmente como racial, e não social. Seria
estatisticamente mais interessante registrar e tornar pública a situação
sócio-profissional dos atendidos pelo SUS, registrando a enorme
insuficiência das classes trabalhadoras e marginalizadas, brancas,
negras e pardas, quanto à saúde e à esperança de vida. Realidade não
retida, como devia ser, no relativo à remuneração e à idade de
aposentadoria.
No essencial, as propostas da obrigação da definição da cor (no fato, da
pretensa raça) quando de registros públicos procuram impor literalmente
racialização artificial do país. Para essa proposta, você não seria
mais simplesmente brasileiro. Mas, obrigatoriamente, brasileiro branco
ou brasileiro negro.
Trata-se de proposta anti-republicana, antidemocrática e profundamente
racista determinar pela lei que todo cidadão assuma uma identidade
racial aleatória ou oportunista. Uma identidade racial que, no novo
mundo proposto, poderia ensejar privilégios em relação ao resto da
população. Esta proposta se apóia igualmente na concepção da necessidade
da definição da raça quando do atendimento médico, pois, segundo ela,
negros e brancos, de raças diversas, exigiriam tratamentos e
procedimentos médicos diversos! Ou seja, que brancos e negros seriam
biologicamente diversos, como defendiam já os escravistas e seus
ideólogos racistas, como o celerado e farsante conde de Gobineau
(1816-1882).
Proposta racista, de caráter acientífico, que demonstra sua enorme
obtusidade, ainda mais no Brasil, onde a auto-definição racial tende no
geral a sequer possuir uma correspondência genética mais precisa. Os
estudos científicos apontam para que, em uma enorme quantidade, os
brasileiros são produtos de uma forte mescla genética de população das
mais diversas origens européias, americanas, africanas, asiáticas etc. E
não devemos esquecer que aquelas populações já resultavam de enormes
interações genéticas.
Correio da Cidadania: Como você enxerga as lamentações do movimento
negro, que definiu a aprovação dessa versão do Estatuto como traição a
lutas históricas e que seria melhor brigar mais dez anos pela aprovação
de versão satisfatória? Você incluiria o projeto aprovado no rol de
recuos do governo Lula da Silva, em praticamente todas as pautas de
caráter mais progressista?
Mario Maestri: Foi enorme a cooptação pelo Estado de dirigentes
populares no governo Lula da Silva. Hoje, enorme parte das direções
negras tem ligações diretas ou indiretas com o lulismo, com o petismo,
com o Estado, com os quais não arriscam oposição e dissidências. Ao
igual que as direções sindicalistas, camponesas, populares etc. também
cooptadas.
Jamais vimos essas lideranças do movimento negro mobilizando-se contra a
ocupação do Haiti pelo Exército brasileiro. Ou levantando-se contra o
tratamento bestial do sistema prisional brasileiro, habitado por enorme
população negra. Ou denunciando o quase total abandono das populações
flageladas dos últimos tempos. Silêncio de túmulo.
A reprovação do Estatuto no Senado parece ter causado apenas as
assinaladas lamentações das lideranças responsáveis por sua
apresentação. Ele não interpretava as necessidades da população negra
pobre e explorada, que continua abandonada à sua sorte, sem conseguir
construir suas verdadeiras lideranças e programas, ao igual que a
maioria dos trabalhadores e oprimidos dos campos e das cidades do
Brasil.
Correio da Cidadania: Por fim e diante de todos os pontos expostos, você
acredita que se realizou um debate público a contento, com a
participação efetiva da sociedade, na discussão das políticas de
discriminação racial positiva, em geral, e do Estatuto, em particular?
Mario Maestri: Houve debate, superestrutural e institucional:
programas de rádio e de televisão; artigos e livros jornalísticos e
acadêmicos; alguns editoriais. Porém, o debate jamais alcançou a
população nacional, a ser enquadrada pelo Estatuto, seja qual for a sua
cor. Se fizéssemos um levantamento, a imensa maioria dos brasileiros não
sabe o que seja o Estatuto e a quase totalidade não sabe realmente o
que ele propõe.
O debate jamais foi realmente enfrentado, mesmo pela esquerda, que,
paradoxalmente, no passado, destacou-se pela ênfase da importância da
escravidão e do racismo na sociedade de classes no Brasil. No século 20,
foram efetivamente militantes marxistas e comunistas que contribuíram
fortemente para que a questão negra se transformasse no Brasil em
problema histórico e teórico de larga discussão – Astrogildo Pereira,
Edison Carneiro, Benjamin Perét, Clóvis Moura, Décio Freitas etc.
A vanguarda da esquerda organizada aceitou as propostas de racialização
da sociedade nacional sem crítica e reflexão, como parte das novas e
antigas sensibilidades ambientalistas, feministas, anti-racistas etc.
Contribuíram nessa aceitação acrítica e passiva a escassa formação
política e, sobretudo, os frágeis vínculos com o operariado nacional.
Operariado em franca regressão, no Brasil e no mundo, sobretudo após a
derrota histórica de fins de 1980, que ensejou depressão dos valores
universalistas, racionalistas, socialistas etc. Ou seja, com a crescente
fragilidade do programa dos trabalhadores, fortaleceu-se a influência
das propostas ideológicas e conservadoras do capital, também entre a
própria esquerda, como no caso das visões raciais da sociedade.
Nas razões dessa renúncia passiva ao programa socialista ajuntaríamos
uma espécie de consciência culpada, por parte de militantes em geral com
origem na classe média e médio-baixa branca, no contexto de escassa
importância dada à questão, vista tradicionalmente como periférica aos
problemas centrais da revolução, mesmo quando destacada nos programas
políticos. Foram também importante as pressões da juventude negra
estudantil radicalizada, conquistada para essas propostas no processo de
flexibilização de organizações de esquerda, como o PSTU, de frágeis
vínculos sociais e políticos com os trabalhadores.
Valéria Nader, economista, é editora do Correio da Cidadania; colaborou Gabriel Brito, jornalista.
|
Um blog de informações culturais, políticas e sociais, fazendo o contra ponto à mídia de esgoto.
sexta-feira, 6 de agosto de 2010
Estatuto da Igualdade Racial: 'Luta Social ou Luta de Raça?'
quinta-feira, 5 de agosto de 2010
Liberdade de expressão: o “efeito silenciador” da grande mídia
Venício Lima, na Carta Maior
Desde a convocação da 1ª. Conferência Nacional de Comunicação
(CONFECOM), em abril de 2009, os grandes grupos de mídia e seus aliados
decidiram intensificar a estratégia de oposição ao governo e aos
partidos que lhe dão sustentação. Nessa estratégia – assumida pela
presidente da ANJ e superintendente do grupo Folha – um dos pontos
consiste em alardear publicamente que o país vive sob ameaça constante
de volta à censura e de que a liberdade de expressão [e, sem mais, a
liberdade da imprensa] corre sério risco.
Além da satanização da própria CONFECOM, são exemplos recentes dessa
estratégia, a violenta resistência ao PNDH3 e o carnaval feito em torno
da primeira proposta de programa de governo entregue ao TSE pela
candidata Dilma Roussef (vide, por exemplo, a capa, o editorial e a
matéria interna da revista Veja, edição n. 2173).
A liberdade – o eterno tema de combate do liberalismo clássico – está
na centro da “batalha das idéias” que se trava no dia-a-dia, através da
grande mídia, e se transformou em poderoso instrumento de campanha
eleitoral. Às vezes, parece até mesmo que voltamos, no Brasil, aos
superados tempos da “guerra fria”.
O efeito silenciador
Neste contexto, é oportuna e apropriada a releitura de “A Ironia da Liberdade de Expressão” (Editora Renovar, 2005), pequeno e magistral livro escrito pelo professor de Yale, Owen Fiss, um dos mais importantes e reconhecidos especialistas em “Primeira Emenda” dos Estados Unidos.
Neste contexto, é oportuna e apropriada a releitura de “A Ironia da Liberdade de Expressão” (Editora Renovar, 2005), pequeno e magistral livro escrito pelo professor de Yale, Owen Fiss, um dos mais importantes e reconhecidos especialistas em “Primeira Emenda” dos Estados Unidos.
Fiss introduz o conceito de “efeito silenciador” quando discute que,
ao contrário do que apregoam os liberais clássicos, o Estado não é um
inimigo natural da liberdade. O Estado pode ser uma fonte de liberdade,
por exemplo, quando promove “a robustez do debate público em
circunstâncias nas quais poderes fora do Estado estão inibindo o
discurso. Ele pode ter que alocar recursos públicos – distribuir
megafones – para aqueles cujas vozes não seriam escutadas na praça
pública de outra maneira. Ele pode até mesmo ter que silenciar as vozes
de alguns para ouvir as vozes dos outros. Algumas vezes não há outra
forma” (p. 30).
Fiss usa como exemplo os discursos de incitação ao ódio, a
pornografia e os gastos ilimitados nas campanhas eleitorais. As vítimas
do ódio têm sua auto-estima destroçada; as mulheres se transformam em
objetos sexuais e os “menos prósperos” ficam em desvantagem na arena
política.
Em todos esses casos, “o efeito silenciador vem do próprio discurso”,
isto é, “a agência que ameaça o discurso não é Estado”. Cabe, portanto,
ao Estado promover e garantir o debate aberto e integral e assegurar
“que o público ouça a todos que deveria”, ou ainda, garanta a democracia
exigindo “que o discurso dos poderosos não soterre ou comprometa o
discurso dos menos poderosos”.
Especificamente no caso da liberdade de expressão, existem situações
em que o “remédio” liberal clássico de mais discurso, ao invés da
regulação do Estado, simplesmente não funciona. Aqueles que supostamente
poderiam responder ao discurso dominante não têm acesso às formas de
fazê-lo (pp. 47-48).
Creio que o exemplo emblemático dessa última situação é o acesso ao
debate público nas sociedades onde ele (ainda) é controlado pelos
grandes grupos de mídia.
Censura disfarçada
A liberdade de expressão individual tem como fim assegurar um debate público democrático onde, como diz Fiss, todas as vozes sejam ouvidas.
A liberdade de expressão individual tem como fim assegurar um debate público democrático onde, como diz Fiss, todas as vozes sejam ouvidas.
Ao usar como estratégia de oposição política o bordão da ameaça
constante de volta à censura e de que a liberdade de expressão corre
risco, os grandes grupos de mídia transformam a liberdade de expressão
num fim em si mesmo. Ademais, escamoteiam a realidade de que, no Brasil,
o debate público não só [ainda] é pautado pela grande mídia como uma
imensa maioria da população a ele não tem acesso e é dele historicamente
excluída.
Nossa imprensa tardia se desenvolveu nos marcos do de um “liberalismo
antidemocrático” no qual as normas e procedimentos relativos a outorgas
e renovações de concessões de radiodifusão são responsáveis pela
concentração da propriedade nas mãos de tradicionais oligarquias
políticas regionais e locais (nunca tivemos qualquer restrição efetiva à
propriedade cruzada), e impedem a efetiva pluralidade e diversidade nos
meios de comunicação.
A interdição do debate verdadeiramente público de questões relativas à
democratização das comunicações pelos grupos dominantes de mídia, na
prática, funciona como uma censura disfarçada.
Este é o “efeito silenciador” que o discurso da grande mídia provoca
exatamente em relação à liberdade de expressão que ela simula defender.
Venício A. de Lima é professor titular de Ciência Política e
Comunicação da UnB (aposentado) e autor, dentre outros, de Liberdade de
Expressão vs. Liberdade de Imprensa – Direito à Comunicação e
Democracia, Publisher, 2010.
Opção pela água e pela superação do monocultivo
Pedro Carrano
O brasileiro ingeriu, em média, 3,7 quilos
de agrotóxicos em 2009. Trata-se de uma massa de cerca de 713
milhões de toneladas de produtos comercializadas no país
por cerca de seis corporações transnacionais. Estas
empresas controlam toda a cadeia produtiva, da semente ao agroquímico
ligado a ela. Uma condição que pressiona o agricultor
familiar, refém da compra do “pacote tecnológico”
gerador da dependência na produção. O capital
dessas companhias do ramo é maior que o produto interno bruto
da maioria dos países da Organização das Nações
Unidas. Só no Brasil lucraram 6,8 bilhões de dólares
em 2009.
Para tanto, o país ergueu a taça de
campeão mundial em uso de agrotóxicos e bateu outro
recorde: duplicou o consumo em relação a 2008.
Relatórios recentes da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), que vem sendo criticado pelo lobby do
agronegócio, apontam que 15% dos alimentos pesquisados pelo
órgão apresentaram taxa de resíduos de veneno em
um nível prejudicial à saúde. Cana-de-açúcar,
soja, arroz, milho, tabaco, tomate, batata, hortaliças (veja
tabela) são produtos do dia-a-dia que passaram a ter alto
índice de toxidade.
Agroquímico, semente, terra e mercado fazem
parte da mesma cadeia produtiva sob controle dos monopólios.
Larissa Parker, advogada da Terra de Direitos, aponta uma relação
direta entre a concentração do mercado de sementes e de
agrotóxicos. A transnacional Monsanto controla de 85 a 87% do
mercado de sementes. No caso do transgênico Milho BT (da
empresa estadunidense), de acordo com a advogada, o próprio
cereal é desenvolvido com uma toxina contra determinado tipo
de praga. Ainda assim, agricultores no Rio Grande do Sul precisaram
realizar mais de duas aplicações de agrotóxicos
na lavoura. Os insetos mostraram-se resistentes à substância
tóxica. Na Argentina, as corporações cobram
patentes apenas dos agrotóxicos e não das sementes, já
que o seu uso está atrelado a elas.
Apesar de surgir como a “salvação
da lavoura”, prometendo aumento de produtividade, a introdução
do químico ligado à semente transgênica
incentivou o aumento do uso de tóxicos. O cultivo da soja teve
uma variação negativa em sua área plantada (-
2,55%) e, contraditoriamente, uma variação positiva de
31,27% no consumo de agrotóxicos, entre os anos de 2004 a
2008, como explicam os professores Fernando Ferreira Carneiro e
Vicente Soares e Almeida, do Departamento de Saúde Coletiva da
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de
Brasília (UnB).
Além disso, produtos que foram barrados no
exterior são usados em diferentes cultivos brasileiros. Entre
dezenas de substâncias perigosas, o endosulfan, por exemplo, é
um inseticida cancerígeno, proibido há 20 anos na União
Europeia, Índia, Burkina Faso, Cabo Verde, Nigéria,
Senegal e Paraguai. Mas não é proibido no Brasil, onde
é muito usado na soja e no milho.
Outro exemplo de um cenário absurdo:
grandes produtores de cítricos não têm usado
determinada substância tóxica, não por
consciência ecológica, mas porque países
importadores não a aceitam. De acordo com informações
da página da Anvisa “todos os citricultores que exportam
suco de laranja já não utilizam mais a cihexatina, pois
nenhum país importador, como Canadá, Estados Unidos,
Japão e União Européia, aceita resíduos
dessa substância nos alimentos”.
Cultura internalizada
O Censo Agropecuário de 2006, divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
informou que 56% das propriedades brasileiras usam venenos sem
assistência técnica. De acordo com a mesma pesquisa,
práticas alternativas, como controle biológico, queima
de resíduos agrícolas e de restos de cultura, que
poderiam gerar redução no uso de agrotóxicos,
também são pouco utilizadas.
Adriano Resemberg, engenheiro agrônomo do
departamento de fiscalização da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Paraná (Seab), analisa a
questão dos agrotóxicos a partir dos seguintes eixos: o
primeiro é que o uso dos agrotóxicos produz um impacto
e uma alteração do bioma local. O outro é que a
prática do uso de venenos é desnecessária, mas
acaba sendo apontada como a única saída para o
produtor. E vira uma cultura. “Muitas boas práticas
agrícolas, como o manejo do solo, têm sido deixadas de
lado. O uso do agrotóxico é mais fácil, diante
da falta de uma saída do serviço de assistência
técnica pública do Estado. O que vemos são
profissionais levando pacotes [tecnológicos] e não
soluções, um modelo que leva o agricultor a usar o
agrotóxico e não questionar muito isso. Usar um inimigo
natural não significa menos tecnologia, ao contrário”,
analisa.
"65 anos nos separam de uma marcante tragédia"
A presidente do Conselho Mundial da Paz, Socorro Gomes, encontra-se no Japão, onde participa da Conferência Mundial contra as Armas Nucleares, na cidade de Hiroxima, e dos atos oficiais organizados por ocasião do 65º aniversário da explosão da bomba atômica, que transcorre em 6 de agosto. Nesta quinta (5), Socorro discursou em Hiroxima.
Leia abaixo a íntegra do discurso, na ocasião do transcurso dos 65 anos dos bombardeios nucleares pelos Estados Unidos da América (EUA) contra o povo japonês:Fonte: vermelho
"Hoje, quando 65 anos nos separam de uma marcante e inesquecível
tragédia para a humanidade, algumas simbólicas reminiscências brilham em
nossa memória sob os céus da cidade de Hiroxima. Acompanha-nos, em
sonora e solene circunstância, uma composição musical do ex-embaixador e
poeta brasileiro Vinícius de Moraes, já falecido, ao lado de outro
patrício, Gerson Conrad, sob o título “Rosa de Hiroxima”:
Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas, oh, não se esqueçam
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroxima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A anti-rosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa sem nada
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas, oh, não se esqueçam
Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroxima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A anti-rosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa sem nada
O dramático apelo, que ganha substância nos versos do poeta tornou-se
emblemático em inúmeros países. E também ofereceu sua singela
contribuição, entre as muitas manifestações do espírito humano ofendido
pelo genocídio atômico, para que se criasse uma consciência universal em
oposição ao uso destrutivo da energia nuclear e ao seu monopólio pelas
potências armadas, hegemonizadas pelos Estados Unidos da América.
E foi essa crescente consciência universal que conduziu a luta dos povos, ao longo de décadas, pela paz mundial, em oposição às guerras imperialistas promovidas em todos os continentes e movidas, sobretudo pelos interesses econômicos hegemonistas dos EUA. Isso foi marcante na segunda metade do século passado e cresceu, numa frequência amiúde, na primeira década do atual século 21, sobretudo com as invasões de países como o Afeganistão e o Iraque.
Em todos esses momentos, a chantagem nuclear teve seus desdobramentos, desde os ataques massivos genocidas sobre Hiroxima e Nagasaki. Em resposta a essa arrogância, também cresceu no mundo o clamor pelo desarmamento nuclear. O Conselho Mundial da Paz e todas as organizações que o integram estão engajados neste clamor e nesta luta.
Temos a convicção de que é possível dar passos concretos no sentido do desarmamento. O CMP tem atuado nesse sentido, tendo organizado importantes atividades e participado de outras, organizadas por diferentes movimentos, e de eventos oficiais no quadro das Nações Unidas.
Nosso propósito, ao promover e participar dessas atividades, consiste em ampliar a discussão sobre o assunto com a sociedade e conquistá-la para as atuais e futuras batalhas.
Vive em nossa memória o Apelo de Estocolmo, lançado pelo Conselho Mundial da Paz há 60 anos, quando ocorreu uma expressiva mobilização do movimento pacifista e alcançou-se 600 milhões de assinaturas. Hoje, consideramos que não é factível a não-proliferação sem desarmamento, visto que já existem os instrumentos para a não-proliferação sem que se tenham afirmado as medidas para o desarmamento.
Os EUA, com a pretensão hegemonista que consiste em estabelecer draconianas regras apenas para os demais países do planeta, se afirmam como o maior entrave ao desarmamento. Ao tempo que vedam a outros países os avanços tecnológicos, elevam seu orçamento militar para manter e modernizar suas armas nucleares.
A humanidade terá sempre as tragédias de Hiroxima e Nagasaki como espadas cravadas em seu espírito e na espinha dorsal do processo civilizatório, nos únicos ataques onde se utilizou armas nucleares. Prevalece a consciência de que, naquele momento, os povos foram abalados pela eclosão sem paralelos da destruição em massa. Historicamente, não se apresentou, até a atualidade, nenhum episódio que, de longe, fosse comparável a tanto terror. As estimativas do total de pessoas executadas em massa ultrapassam em muito as avaliações de 140 mil em Hiroxima e 80 mil em Nagasaki — em sua maioria, civis. São consideravelmente mais elevadas, essas estimativas, quando se contabiliza as mortes e mutilações congênitas posteriores, devidas à exposição à radiação.
Entretanto, ao longo das décadas que nos separam das tragédias assinaladas de Hiroxima e Nagasaki, os EUA demonstraram — do Vietnã ao Iraque e Afeganistão, entre as inúmeras guerras que engendrou de modo mais ou menos ostensivo e devastador — que não houve nação mais agressiva e desumana ao longo do processo do desenvolvimento histórico. Suas vítimas no mundo inteiro se contam aos milhões. Cresce também sua capacidade em criminalizar as nações vitimadas, desde as versões fantasiosas e caluniosas sobre “ameaças” que se inspiram no seu próprio terrorismo de Estado, a exemplo do que ocorre hoje em relação ao Irã.
Considerando a necessidade de desenvolvimento da tecnologia nuclear para fins pacíficos, da não proliferação das armas nucleares e do desarmamento, compartilhamos a opinião que os países não devem assinar o Protocolo Adicional ao TNP.
Os países não podem se submeter às pressões, ameaças ou chantagens que acenam com a possibilidade de uso da arma atômica contra quem não for signatário do tratado de não-proliferação em função de sua cláusula adicional. E devem se pronunciar criticamente quanto ao anúncio das novas orientações dos EUA sobre sua política nuclear. No TNP, o desarmamento é declaratório e, no caso da não-proliferação é mandatório, realçando desequilíbrio quanto aos interesses do conjunto dos 172 Estados-Parte.
O ambiente em que vivemos hoje esclarece nitidamente que as potências nucleares não se voltam para a proteção da humanidade, mas para a defesa dos seus interesses próprios quando anunciam — no caso dos Estados Unidos e Rússia — um acordo de redução dos arsenais nucleares. E são crescentes as evidências de que os tratados acerca das armas nucleares alcançam tão somente um desequilíbrio destinado a preservar a posição dos possuidores de poderosos arsenais, à frente os EUA, capazes de destruir a humanidade, tornando a vida mais vulnerável e o mundo mais perigoso e inseguro.
E isso apenas coonesta a tendência destrutiva predominante na história dos grandes impérios, indisfarçavelmente mais ameaçadores em defesa de sua hegemonia, em especial nos momentos de maiores dificuldades e crises, tornando-se mais ofensivos e beligerantes.
A manutenção dos grandiosos arsenais nucleares representa igualmente imensas despesas voltadas para a miniaturização, a alta precisão e a produção de cargas variáveis dessas armas para que sejam operacionais em guerras localizadas — único tipo de guerra imaginável desde a perversa destruição de Hiroxima e Nagasaki.
Os países — a esmagadora maioria dos Estados-Parte da ONU — prejudicados pela ação excludente do hegemonismo imperialista, devem buscar a ampliação do espaço da energia nuclear para fins pacíficos nas mesas de negociações, devidamente informados de que esta posição contraria os países armados, que se recusam a partilhar decisões quando o assunto é segurança.
Pois, sabemos que, nos bastidores dessas negociações, predominam formidáveis e fortíssimos interesses econômicos que se ocultam sob o tema da não-proliferação de armas nucleares para barrar o evento de novos pretendentes ao protagonismo no cenário econômico internacional.
A 8ª Conferência de Revisão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares – TNP revelou que há muitas resistências à agenda das potências armadas contra a humanidade, mas os estados nucleares membros da Otan (EUA, Reino Unido, França), com o apoio ocasional da Rússia, reafirmaram, de modo arrogante, que a dissuasão nuclear persiste como especial estratégia de defesa das grandes potências.
Não obstante a reafirmação da política hegemonista na 8ª Conferência de Revisão do TNP, destacamos quatro aspectos sensíveis da resistência mundial entre as suas decisões, que, ainda acanhadas, exigem maior atenção:
Companheiras e companheiros, senhoras e senhores, vivemos em um mundo mergulhado em profundas crises econômicas e sociais, que geram grandes conflitos. As contradições interimperialistas e de classes podem redundar em maiores tensões e conflitos armados. O imperialismo norte-americano e seus aliados da Otan preparam desenfreadamente planos de intervenções e guerras nas diversas regiões do mundo que podem ter efeitos trágicos para as soberanias nacionais e aos direitos dos povos e ameaçar a própria sobrevivência da humanidade.
A aprovação de novas sanções ao Irã no Conselho de Segurança da ONU, e a imposição de sanções unilaterais adicionais pelos EUA e pela União Européia, visam à manutenção do atual sistema de poder mundial, caracterizado pela hegemonia dos EUA,
As estratégias militar e de segurança nacional dos EUA mantêm seu caráter agressivo e contrariam a retórica de cooperação e multilateralismo. Essas estratégias consistem em planos para impor principalmente pela força e se necessário pela guerra os interesses hegemônicos dos EUA. Segundo essas novas estratégias, os EUA, alegando a prioridade para a prevenção da proliferação nuclear, autorizam a si mesmos, em nome dos seus “interesses vitais” ou de seus aliados, como Israel, a realizar um ataque com armas nucleares, em condições “extremas”, contra qualquer país. Na verdade, é a continuidade da política de “guerra preventiva” e de “guerra infinita” de George Bush. Em outras palavras, manter o poder dos EUA pela força militar, custe o que custar à humanidade.
Os EUA investirão em 2011, 780 bilhões de dólares em suas forças armadas, orçamento recorde desde o final da Segunda Guerra que supera em 49% o orçamento de 2000, e que é maior que os gastos militares somados de todos os demais países do mundo. Os EUA insistem em manter bases militares por todo o globo terrestre, em todos os mares e oceanos. Ultimamente têm intensificado a instalação de tais bases na América Latina, na África, no Oceano Índico e na Ásia Central.
Os EUA e a Otan se capacitam para o que chamam de “Ataque Global Imediato Convencional”. Com a nova estratégia da Otan, que passará a atuar em todos os continentes e mares, até as Ilhas Malvinas e outros territórios próximos da América do Sul, são reais ou potenciais bases militares da aliança agressiva. As forças especiais dos EUA, especializadas em ações clandestinas de guerra, em missões de inteligência, subversão e “desestabilização”, já operam em 75 países, sendo que há um ano estavam em 60 países. “O mundo é o campo de batalha”, disse um alto oficial das forças especiais estadunidenses.
A preparação da agressão ao Irã se intensifica. Para o imperialismo é preciso conter o Irã, reforçar o poderio de Israel a fim de não comprometer o seu controle na região do Oriente Médio e da Ásia Central. EUA e Israel se preparam para uma possível intervenção militar, deslocando forças navais através do Canal de Suez rumo ao Golfo Pérsico, próximo às costas marítimas iranianas. Negociam com a Arábia Saudita o uso do espaço aéreo em eventuais bombardeios.
O roteiro dos EUA é similar ao da guerra contra o Iraque, com pressões diplomáticas, medidas cerceadoras na ONU, campanha midiática com base em falsidades, a alegação de eventual descumprimento das sanções, e o acionar do plano de intervenção militar, direta ou através de Israel. Muitas lideranças políticas, intelectuais e especialistas no tema militar, inclusive nos EUA, levantam a possibilidade da guerra contra o Irã ser “a guerra de Obama”, assim como a guerra do Afeganistão e do Iraque foram as guerras de Bush, que Obama continua.
Na Ásia Central e no Oriente Médio, região estratégica para o domínio imperialista global, os EUA e seus aliados da Otan aumentam seus efetivos militares no Afeganistão, prolongam a guerra e prorrogam a ocupação militar no Iraque e adotam medidas para instalar bases militares na Ásia Central.
Os EUA e Israel ameaçam a Síria e as forças patrióticas no Líbano, sustentam a ocupação na Palestina e o bloqueio criminoso contra a Faixa de Gaza, que a flotilha humanitária, covardemente atacada pelos militares israelenses, tão bem denunciou.
No leste da Ásia os EUA realizaram recentemente, em conjunto com a Coreia do Sul, manobras militares de grande porte na Península Coreana. Em seguida acusaram o governo norte-coreano de afundar um navio de guerra sul-coreano, quando surgem fortes suspeitas de que as próprias forças militares e de inteligência ianques teriam colocado uma mina na embarcação para criar artificialmente uma tensão com a República Popular Democrática da Coreia e tentar isolá-la internacionalmente. Há duas semanas, acentuaram-se os traços agressivos da ação estadunidense na região, com a realização de novas manobras militares na Península e a adoção de novas sanções contra a Coreia do Norte.
Além desses objetivos, os EUA, depois de fortes pressões, conseguiu a manutenção das bases militares em território japonês, em especial a base de Okinawa.
Um pacto entre os governos da Índia e dos Estados Unidos para, nas palavras deles, "conter o terrorismo" foi assinado em 23 de julho em Nova Delhi.
Segundo o pacto, os serviços de segurança e inteligência dos dois países serão compartilhados, em áreas como a segurança marítima, grandes eventos e na "luta conjunta em bases globais contra um inimigo comum, o terrorismo". Esta é mais uma demonstração do intervencionismo norte-americano e da preparação de medidas antidemocráticas em nome da “luta contra o terrorismo”.
Na América Latina recrudescem as pressões contra a Revolução Cubana, a Revolução Bolivariana da Venezuela e os processos democráticos, populares e antiimperialistas em toda a região. Após a reativação da 4ª Frota, os EUA instalam novas bases militares, como em Honduras, onde ajudaram a promover um golpe de estado. A pretexto de ajuda humanitária ao Haiti, após o terremoto no início deste ano, forças militares estadunidenses com mais de 15 mil soldados desembarcaram no país.
Nos últimos dias mais de sete mil soldados, 46 navios de guerra, porta-aviões, submarinos e helicópteros dos EUA instalaram-se em bases na Costa Rica, supostamente para combater o narcotráfico. O governo colombiano que fez um pacto militar com os Estados Unidos e mantêm em seu território sete bases militares em convênio com Washington, segue a linha traçada pelos EUA de tornar o país uma Israel da América Latina e do Caribe.
A resistência dos povos e países oprimidos está impondo derrotas ao imperialismo, no Oriente Médio, na Ásia Central e em outros cantos da Terra. Na América Latina, continuam a florescer as forças populares, democráticas e antiimperialistas.
As recentes provocações do governo colombiano contra a Venezuela obedecem a um plano ardiloso e sinistro de Washington. Os Estados Unidos têm interesse na guerra e buscam criar as condições para uma conflagração na região.
O mundo, e em especial a América Latina, vivem um momento de transição e mudança. Na América Latina foram eleitos vários governos progressistas que, embora em graus diferenciados, contestam a hegemonia norte-americana e buscam abrir caminho para um desenvolvimento soberano e a integração política e econômica da região.
Com a economia em frangalhos e num processo histórico de decadência, os EUA recorrem ao poder militar, terreno em que sua superioridade é incontestável, como último recurso para manter o domínio sobre o mundo. A guerra é, hoje, o principal instrumento do imperialismo. Isto explica um orçamento militar que corresponde à metade dos gastos bélicos do resto do mundo e foi ampliado apesar da crise (agravando os desequilíbrios financeiros e o déficit do governo imperial), bem como a crescente agressividade contra os povos.
Não devemos subestimar o que está ocorrendo na América Latina e no mundo. São graves as ameaças à paz.
Ao mesmo tempo, há razões para o otimismo histórico. Em todas as partes,os povos se movimentam e lutam, opõem-se às tendências de atirar sobre os ombros dos trabalhadores os efeitos da crise, resistem aos golpes e ameaças de guerra, rechaçam as políticas intervencionistas do imperialismo e em muitos casos, avançam na obtenção de conquistas democráticas e patrióticas. Espraia-se a convicção de que é necessário lutar por um novo ordenamento político e econômico mundial. Cada vez mais, o espírito da época é o da luta antiimperialista, da união de amplas forças da democracia, do progresso, da independência nacional e da paz.
A fraternal presença do CMP no Japão, no transcurso do 65º aniversário dos bombardeios nucleares é uma manifestação de solidariedade com o povo japonês e da unidade do movimento pela paz no mundo. É uma ocasião propícia à reflexão e à organização da luta antiimperialista e pela paz. Renovamos a esperança de que conquistaremos, no presente, o futuro da paz, harmonia e prosperidade social no Japão e em todo o mundo.
A paz mundial, a soberania nacional e o progresso social nunca foram tão necessários à humanidade.
Muito obrigada,
Socorro Gomes,
Presidente do Conselho Mundial da Paz
E foi essa crescente consciência universal que conduziu a luta dos povos, ao longo de décadas, pela paz mundial, em oposição às guerras imperialistas promovidas em todos os continentes e movidas, sobretudo pelos interesses econômicos hegemonistas dos EUA. Isso foi marcante na segunda metade do século passado e cresceu, numa frequência amiúde, na primeira década do atual século 21, sobretudo com as invasões de países como o Afeganistão e o Iraque.
Em todos esses momentos, a chantagem nuclear teve seus desdobramentos, desde os ataques massivos genocidas sobre Hiroxima e Nagasaki. Em resposta a essa arrogância, também cresceu no mundo o clamor pelo desarmamento nuclear. O Conselho Mundial da Paz e todas as organizações que o integram estão engajados neste clamor e nesta luta.
Temos a convicção de que é possível dar passos concretos no sentido do desarmamento. O CMP tem atuado nesse sentido, tendo organizado importantes atividades e participado de outras, organizadas por diferentes movimentos, e de eventos oficiais no quadro das Nações Unidas.
Nosso propósito, ao promover e participar dessas atividades, consiste em ampliar a discussão sobre o assunto com a sociedade e conquistá-la para as atuais e futuras batalhas.
Vive em nossa memória o Apelo de Estocolmo, lançado pelo Conselho Mundial da Paz há 60 anos, quando ocorreu uma expressiva mobilização do movimento pacifista e alcançou-se 600 milhões de assinaturas. Hoje, consideramos que não é factível a não-proliferação sem desarmamento, visto que já existem os instrumentos para a não-proliferação sem que se tenham afirmado as medidas para o desarmamento.
Os EUA, com a pretensão hegemonista que consiste em estabelecer draconianas regras apenas para os demais países do planeta, se afirmam como o maior entrave ao desarmamento. Ao tempo que vedam a outros países os avanços tecnológicos, elevam seu orçamento militar para manter e modernizar suas armas nucleares.
A humanidade terá sempre as tragédias de Hiroxima e Nagasaki como espadas cravadas em seu espírito e na espinha dorsal do processo civilizatório, nos únicos ataques onde se utilizou armas nucleares. Prevalece a consciência de que, naquele momento, os povos foram abalados pela eclosão sem paralelos da destruição em massa. Historicamente, não se apresentou, até a atualidade, nenhum episódio que, de longe, fosse comparável a tanto terror. As estimativas do total de pessoas executadas em massa ultrapassam em muito as avaliações de 140 mil em Hiroxima e 80 mil em Nagasaki — em sua maioria, civis. São consideravelmente mais elevadas, essas estimativas, quando se contabiliza as mortes e mutilações congênitas posteriores, devidas à exposição à radiação.
Entretanto, ao longo das décadas que nos separam das tragédias assinaladas de Hiroxima e Nagasaki, os EUA demonstraram — do Vietnã ao Iraque e Afeganistão, entre as inúmeras guerras que engendrou de modo mais ou menos ostensivo e devastador — que não houve nação mais agressiva e desumana ao longo do processo do desenvolvimento histórico. Suas vítimas no mundo inteiro se contam aos milhões. Cresce também sua capacidade em criminalizar as nações vitimadas, desde as versões fantasiosas e caluniosas sobre “ameaças” que se inspiram no seu próprio terrorismo de Estado, a exemplo do que ocorre hoje em relação ao Irã.
Considerando a necessidade de desenvolvimento da tecnologia nuclear para fins pacíficos, da não proliferação das armas nucleares e do desarmamento, compartilhamos a opinião que os países não devem assinar o Protocolo Adicional ao TNP.
Os países não podem se submeter às pressões, ameaças ou chantagens que acenam com a possibilidade de uso da arma atômica contra quem não for signatário do tratado de não-proliferação em função de sua cláusula adicional. E devem se pronunciar criticamente quanto ao anúncio das novas orientações dos EUA sobre sua política nuclear. No TNP, o desarmamento é declaratório e, no caso da não-proliferação é mandatório, realçando desequilíbrio quanto aos interesses do conjunto dos 172 Estados-Parte.
O ambiente em que vivemos hoje esclarece nitidamente que as potências nucleares não se voltam para a proteção da humanidade, mas para a defesa dos seus interesses próprios quando anunciam — no caso dos Estados Unidos e Rússia — um acordo de redução dos arsenais nucleares. E são crescentes as evidências de que os tratados acerca das armas nucleares alcançam tão somente um desequilíbrio destinado a preservar a posição dos possuidores de poderosos arsenais, à frente os EUA, capazes de destruir a humanidade, tornando a vida mais vulnerável e o mundo mais perigoso e inseguro.
E isso apenas coonesta a tendência destrutiva predominante na história dos grandes impérios, indisfarçavelmente mais ameaçadores em defesa de sua hegemonia, em especial nos momentos de maiores dificuldades e crises, tornando-se mais ofensivos e beligerantes.
A manutenção dos grandiosos arsenais nucleares representa igualmente imensas despesas voltadas para a miniaturização, a alta precisão e a produção de cargas variáveis dessas armas para que sejam operacionais em guerras localizadas — único tipo de guerra imaginável desde a perversa destruição de Hiroxima e Nagasaki.
Os países — a esmagadora maioria dos Estados-Parte da ONU — prejudicados pela ação excludente do hegemonismo imperialista, devem buscar a ampliação do espaço da energia nuclear para fins pacíficos nas mesas de negociações, devidamente informados de que esta posição contraria os países armados, que se recusam a partilhar decisões quando o assunto é segurança.
Pois, sabemos que, nos bastidores dessas negociações, predominam formidáveis e fortíssimos interesses econômicos que se ocultam sob o tema da não-proliferação de armas nucleares para barrar o evento de novos pretendentes ao protagonismo no cenário econômico internacional.
A 8ª Conferência de Revisão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares – TNP revelou que há muitas resistências à agenda das potências armadas contra a humanidade, mas os estados nucleares membros da Otan (EUA, Reino Unido, França), com o apoio ocasional da Rússia, reafirmaram, de modo arrogante, que a dissuasão nuclear persiste como especial estratégia de defesa das grandes potências.
Não obstante a reafirmação da política hegemonista na 8ª Conferência de Revisão do TNP, destacamos quatro aspectos sensíveis da resistência mundial entre as suas decisões, que, ainda acanhadas, exigem maior atenção:
- O debate do desarmamento nuclear persistirá, nos termos da correlação já desenhada, na Comissão de Desarmamento da ONU.
- A elaboração, ainda em perspectiva, de um instrumento juridicamente vinculante de garantias do não-uso ou ameaça de uso de armas nucleares contra os países desprovidos dessas armas.
- Uma resolução que convoca a realização de uma conferência, postergada para 2012, destinada a debater a implementação de uma Zona Livre de Armas Nucleares no Oriente Médio.
- Uma ainda tímida e insuficiente demanda para que Israel — o maior obstáculo à construção da paz na região, que chegou a vender armas nucleares ao regime do apartheid da África do Sul — se incorpore ao TNP e coloque seus arsenais sob vigilância da AIEA.
Companheiras e companheiros, senhoras e senhores, vivemos em um mundo mergulhado em profundas crises econômicas e sociais, que geram grandes conflitos. As contradições interimperialistas e de classes podem redundar em maiores tensões e conflitos armados. O imperialismo norte-americano e seus aliados da Otan preparam desenfreadamente planos de intervenções e guerras nas diversas regiões do mundo que podem ter efeitos trágicos para as soberanias nacionais e aos direitos dos povos e ameaçar a própria sobrevivência da humanidade.
A aprovação de novas sanções ao Irã no Conselho de Segurança da ONU, e a imposição de sanções unilaterais adicionais pelos EUA e pela União Européia, visam à manutenção do atual sistema de poder mundial, caracterizado pela hegemonia dos EUA,
As estratégias militar e de segurança nacional dos EUA mantêm seu caráter agressivo e contrariam a retórica de cooperação e multilateralismo. Essas estratégias consistem em planos para impor principalmente pela força e se necessário pela guerra os interesses hegemônicos dos EUA. Segundo essas novas estratégias, os EUA, alegando a prioridade para a prevenção da proliferação nuclear, autorizam a si mesmos, em nome dos seus “interesses vitais” ou de seus aliados, como Israel, a realizar um ataque com armas nucleares, em condições “extremas”, contra qualquer país. Na verdade, é a continuidade da política de “guerra preventiva” e de “guerra infinita” de George Bush. Em outras palavras, manter o poder dos EUA pela força militar, custe o que custar à humanidade.
Os EUA investirão em 2011, 780 bilhões de dólares em suas forças armadas, orçamento recorde desde o final da Segunda Guerra que supera em 49% o orçamento de 2000, e que é maior que os gastos militares somados de todos os demais países do mundo. Os EUA insistem em manter bases militares por todo o globo terrestre, em todos os mares e oceanos. Ultimamente têm intensificado a instalação de tais bases na América Latina, na África, no Oceano Índico e na Ásia Central.
Os EUA e a Otan se capacitam para o que chamam de “Ataque Global Imediato Convencional”. Com a nova estratégia da Otan, que passará a atuar em todos os continentes e mares, até as Ilhas Malvinas e outros territórios próximos da América do Sul, são reais ou potenciais bases militares da aliança agressiva. As forças especiais dos EUA, especializadas em ações clandestinas de guerra, em missões de inteligência, subversão e “desestabilização”, já operam em 75 países, sendo que há um ano estavam em 60 países. “O mundo é o campo de batalha”, disse um alto oficial das forças especiais estadunidenses.
A preparação da agressão ao Irã se intensifica. Para o imperialismo é preciso conter o Irã, reforçar o poderio de Israel a fim de não comprometer o seu controle na região do Oriente Médio e da Ásia Central. EUA e Israel se preparam para uma possível intervenção militar, deslocando forças navais através do Canal de Suez rumo ao Golfo Pérsico, próximo às costas marítimas iranianas. Negociam com a Arábia Saudita o uso do espaço aéreo em eventuais bombardeios.
O roteiro dos EUA é similar ao da guerra contra o Iraque, com pressões diplomáticas, medidas cerceadoras na ONU, campanha midiática com base em falsidades, a alegação de eventual descumprimento das sanções, e o acionar do plano de intervenção militar, direta ou através de Israel. Muitas lideranças políticas, intelectuais e especialistas no tema militar, inclusive nos EUA, levantam a possibilidade da guerra contra o Irã ser “a guerra de Obama”, assim como a guerra do Afeganistão e do Iraque foram as guerras de Bush, que Obama continua.
Na Ásia Central e no Oriente Médio, região estratégica para o domínio imperialista global, os EUA e seus aliados da Otan aumentam seus efetivos militares no Afeganistão, prolongam a guerra e prorrogam a ocupação militar no Iraque e adotam medidas para instalar bases militares na Ásia Central.
Os EUA e Israel ameaçam a Síria e as forças patrióticas no Líbano, sustentam a ocupação na Palestina e o bloqueio criminoso contra a Faixa de Gaza, que a flotilha humanitária, covardemente atacada pelos militares israelenses, tão bem denunciou.
No leste da Ásia os EUA realizaram recentemente, em conjunto com a Coreia do Sul, manobras militares de grande porte na Península Coreana. Em seguida acusaram o governo norte-coreano de afundar um navio de guerra sul-coreano, quando surgem fortes suspeitas de que as próprias forças militares e de inteligência ianques teriam colocado uma mina na embarcação para criar artificialmente uma tensão com a República Popular Democrática da Coreia e tentar isolá-la internacionalmente. Há duas semanas, acentuaram-se os traços agressivos da ação estadunidense na região, com a realização de novas manobras militares na Península e a adoção de novas sanções contra a Coreia do Norte.
Além desses objetivos, os EUA, depois de fortes pressões, conseguiu a manutenção das bases militares em território japonês, em especial a base de Okinawa.
Um pacto entre os governos da Índia e dos Estados Unidos para, nas palavras deles, "conter o terrorismo" foi assinado em 23 de julho em Nova Delhi.
Segundo o pacto, os serviços de segurança e inteligência dos dois países serão compartilhados, em áreas como a segurança marítima, grandes eventos e na "luta conjunta em bases globais contra um inimigo comum, o terrorismo". Esta é mais uma demonstração do intervencionismo norte-americano e da preparação de medidas antidemocráticas em nome da “luta contra o terrorismo”.
Na América Latina recrudescem as pressões contra a Revolução Cubana, a Revolução Bolivariana da Venezuela e os processos democráticos, populares e antiimperialistas em toda a região. Após a reativação da 4ª Frota, os EUA instalam novas bases militares, como em Honduras, onde ajudaram a promover um golpe de estado. A pretexto de ajuda humanitária ao Haiti, após o terremoto no início deste ano, forças militares estadunidenses com mais de 15 mil soldados desembarcaram no país.
Nos últimos dias mais de sete mil soldados, 46 navios de guerra, porta-aviões, submarinos e helicópteros dos EUA instalaram-se em bases na Costa Rica, supostamente para combater o narcotráfico. O governo colombiano que fez um pacto militar com os Estados Unidos e mantêm em seu território sete bases militares em convênio com Washington, segue a linha traçada pelos EUA de tornar o país uma Israel da América Latina e do Caribe.
A resistência dos povos e países oprimidos está impondo derrotas ao imperialismo, no Oriente Médio, na Ásia Central e em outros cantos da Terra. Na América Latina, continuam a florescer as forças populares, democráticas e antiimperialistas.
As recentes provocações do governo colombiano contra a Venezuela obedecem a um plano ardiloso e sinistro de Washington. Os Estados Unidos têm interesse na guerra e buscam criar as condições para uma conflagração na região.
O mundo, e em especial a América Latina, vivem um momento de transição e mudança. Na América Latina foram eleitos vários governos progressistas que, embora em graus diferenciados, contestam a hegemonia norte-americana e buscam abrir caminho para um desenvolvimento soberano e a integração política e econômica da região.
Com a economia em frangalhos e num processo histórico de decadência, os EUA recorrem ao poder militar, terreno em que sua superioridade é incontestável, como último recurso para manter o domínio sobre o mundo. A guerra é, hoje, o principal instrumento do imperialismo. Isto explica um orçamento militar que corresponde à metade dos gastos bélicos do resto do mundo e foi ampliado apesar da crise (agravando os desequilíbrios financeiros e o déficit do governo imperial), bem como a crescente agressividade contra os povos.
Não devemos subestimar o que está ocorrendo na América Latina e no mundo. São graves as ameaças à paz.
Ao mesmo tempo, há razões para o otimismo histórico. Em todas as partes,os povos se movimentam e lutam, opõem-se às tendências de atirar sobre os ombros dos trabalhadores os efeitos da crise, resistem aos golpes e ameaças de guerra, rechaçam as políticas intervencionistas do imperialismo e em muitos casos, avançam na obtenção de conquistas democráticas e patrióticas. Espraia-se a convicção de que é necessário lutar por um novo ordenamento político e econômico mundial. Cada vez mais, o espírito da época é o da luta antiimperialista, da união de amplas forças da democracia, do progresso, da independência nacional e da paz.
A fraternal presença do CMP no Japão, no transcurso do 65º aniversário dos bombardeios nucleares é uma manifestação de solidariedade com o povo japonês e da unidade do movimento pela paz no mundo. É uma ocasião propícia à reflexão e à organização da luta antiimperialista e pela paz. Renovamos a esperança de que conquistaremos, no presente, o futuro da paz, harmonia e prosperidade social no Japão e em todo o mundo.
A paz mundial, a soberania nacional e o progresso social nunca foram tão necessários à humanidade.
Muito obrigada,
Socorro Gomes,
Presidente do Conselho Mundial da Paz
Salário de professor varia até quatro vezes entre estados
| |
Valorização profissional não acompanha importância do docente para a educação. Diferenças salariais são grandes
A
valorização dos professores é considerada ponto crucial para o sucesso
das escolas com bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Com salários de até R$ 7 mil, cursos de especialização pagos pelas
instituições onde trabalham e inúmeros recursos à disposição, esses
professores podem se considerar privilegiados em relação ao cenário
nacional.
A realidade salarial para a maioria das escolas do País é
bastante diferente das melhores escolas no ranking do Enem, composto em
sua maioria por instituições privadas. Levantamento feito pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), com dados de
setembro de 2009, mostra que há professores que, mesmo com diploma de
ensino superior, ganham pouco mais de um salário mínimo.
No Ceará,
Estado com uma das remunerações mais baixas do País, docentes em início
de carreira ganham, em média, R$ 627,08 por mês. O valor é quatro vezes
menor do que recebem os professores iniciantes no Distrito Federal.
Incluindo todas as gratificações, os salários dos cearenses não
ultrapassam R$ 739,29 quando começam a dar aulas.
No Amazonas, os
docentes recebem pouco mais que isso: R$ 841,32. De acordo com a
pesquisa realizada pela CNTE, em Roraima, os iniciantes ganham apenas R$
10,19 a mais que no Estado vizinho. Em todos esses casos, os
profissionais que lecionam nas escolas amazonenses não recebem o piso
salarial definido em lei para a categoria.
Remuneração mínima
Em
junho de 2008, foi aprovada pelo Congresso Nacional uma emenda
constitucional que institui o piso salarial nacional para os
professores. A categoria é a única do País a ter o benefício assegurado
na Constituição Federal.
Segundo a lei, os Estados e municípios
teriam até 1º de janeiro de 2010 para começar a pagar a remuneração
mínima de R$ 950 a docentes que trabalhassem 40 horas semanais e
tivessem o ensino médio completo. O valor já subiu para R$ 1.024,
segundo correção feita pelo MEC na data em que o piso se tornaria
obrigatório em todo o País.
Apesar da determinação legal, milhares
de professores estão longe de receber esses valores. Os governos de
Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Ceará,
com apoio da Confederação Nacional dos Municípios (CMN), entraram com
uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin) no Supremo Tribunal
Federal (STF) contra a emenda constitucional. Para eles, o valor
definido pela lei seria superior ao que poderia ser pago pelos Estados
sem comprometer seus orçamentos.
“O STF já julgou que o piso é
constitucional, mas os Estados reclamam que o valor de R$ 1024 deve ser a
soma do salário base com as bonificações. A lei diz que o piso é só o
salário base e as bonificações devem ser pagas além dele”, explica o
vice-presidente do CNTE, Milton Canuto de Almeida.
O STF precisa
dar um parecer final para acabar com o impasse. Até lá, muitos
profissionais continuarão recebendo o piso como soma do salário-base com
benefícios. “Se o piso considerar o valor dos benefícios, os
professores podem ser prejudicados na aposentadoria, que é calculada a
partir do salário base e não das bonificações. Este pode ser um grande
prejuízo para o professor”, explica Almeida.
Em Santa Catarina, os
docentes são pagos dessa forma. O menor salário-base é o pago pelo
Estado aos iniciantes: R$ 534,46. Porém, com o pagamento de regências de
classe, a remuneração média chega a R$ 1.023,24. “Ninguém no Estado
ganha menos que o piso e, enquanto o STF não julgar que o piso deve ser
sem os acréscimos, podemos pagar desta forma. No dia que isso mudar, nós
nos adaptaremos, mas, até lá, estamos dentro da lei”, defende a
diretora de Desenvolvimento Humano da Secretaria de Educação de Santa
Catarina, Elizete Melo.
Na opinião da diretora, a situação do
professor em Santa Catarina não é tão desfavorável. “A maioria deles tem
formação em licenciatura, por isso esse valor é pago para poucos”,
afirma.
Diferenças entre municípios
No
Ceará, a rede estadual paga pelo menos R$ 1.024 para os 300 professores
da rede que não possuem diploma de licenciatura. “Eles estão fora da
sala de aula, em processo de aposentadoria. A remuneração média dos
professores da rede com carga horária de 40 horas semanais é de R$
2.240,30”, afirma Marta Emília Silva Vieira, coordenadora de gestão de
pessoas da Secretaria da Educação do Ceará.
Realidade bem
diferente da cearense é a da capital federal. O DF chega a pagar R$
2.551,59 com bonificações. O Amapá aparece em segundo lugar entre os que
melhor pagam os professores. A remuneração total é de R$ 1.895,22, mas o
salário-base não passa de R$ 971,91. Em São Paulo, a remuneração média
paga para um professor iniciante, com ensino médio e que trabalha 30
horas semanais, é de R$ 1.213,26.
Os salários pagos aos
professores são inferiores às remunerações de outros profissionais cujo
papel é essencial para a sociedade. Médicos, advogados, engenheiros,
contadores, policiais e caixas de banco ganham mais.
Carência de profissionais
A
baixa remuneração contribui para que um problema antigo das escolas
brasileiras continue sem solução em um curto período de tempo: a falta
de profissionais. Com a crescente expansão de investimentos e leis que
tornaram obrigatórios o ensino fundamental de nove anos e o ensino
médio, cada vez mais professores serão necessários nas salas de aulas
brasileiras.
O último levantamento oficial feito para tentar
mensurar a quantidade de docentes que o País precisa para atender à
demanda brasileira apontava uma carência de 250 mil professores nas
escolas brasileiras. O estudo elaborado pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE) com a ajuda do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) se baseou em dados de 2007.
De
lá para cá, os números não foram atualizados. Mas um dos autores do
estudo, Mozart Neves Ramos, acredita que a realidade atual permanece a
mesma de dois anos atrás. “Não há como fazer uma mudança assim em tão
pouco tempo. Só para formar os futuros professores são necessários
quatro anos. Acho que a partir do ano que vem poderemos perceber os
impactos das políticas adotadas”, pondera.
O estudo realizado por
Mozart mostra que as maiores carências são nas áreas de exatas: física,
química, matemática e biologia. Só em física é preciso contratar 23,5
mil novos professores para o ensino médio. Mozart, que é conselheiro do
CNE, lembra que tão importante quanto suprir essa carência é corrigir
outro problema presente nos quadros docentes dessas disciplinas. Muitos
dão aulas sem formação específica para as áreas.
Apenas 5% dos
professores de física das séries finais do ensino fundamental têm
licenciatura na área. Em química, apenas 10,4% dos docentes têm formação
adequada. Em biologia, 16,4%. Mesmo em língua portuguesa, a disciplina
dessa fase que mais possui professores com formação adequada para o
ensino da matéria, os qualificados não passam de 65% do quadro de
profissionais da área.
No ensino médio, as áreas em que há mais
profissionais com formação inadequada são física (só 25,1% dos docentes
têm formação na área) e química (28% dão aulas sem qualificação
adequada). “Esse é um problema que tem de ser analisado no mesmo patamar
de importância do déficit de docentes. Essa é uma situação igualmente
grave”, ressalta.
“É preciso reconhecer que muitas medidas foram
tomadas após esse estudo para enfrentar esse problema. A Universidade
Aberta do Brasil, a ênfase do Reuni (programa de expansão das federais) e
a implantação de programas de incentivo à docência podem aumentar a
quantidade de professores formados no País”, diz.Fonte: Boletim da CNTE
quarta-feira, 4 de agosto de 2010
Concentração de renda e agonia da classe média nos EUA
Vivendo no país mais rico do mundo, a classe trabalhadora estadunidense vem comendo o pão que o diabo amassou ao longo das últimas décadas. Os salários reais estão estagnados desde 1973, ou nos últimos 37 anos, ao passo que a renda das famílias mais ricas (1% da população) triplicou, conforme observou o jornalista Edward Luce, do Financial Times, em reportagem intitulada “A agonia da classe média americana”, reproduzida nesta quarta (4) pelo jornal Valor.
A crescente concentração da renda no
topo da pirâmide e o arrocho dos salários na base constituem
provavelmente as principais características do padrão de reprodução do
capitalismo americano no período mencionado, que sucedeu os chamados
“anos dourados” do pós-guerra (décadas de 1959 e 1960). Isto impactou
fortemente a chamada classe média, conforme revela Luce.
Problema estrutural
A tendência à concentração de maior riqueza num pólo e pobreza noutra
foi intensificada nos últimos anos, a tal ponto que “a maioria dos
economistas vê a grande estagnação [dos salários] como um problema
estrutural – ou seja, inume ao ciclo econômico”.
No último ciclo de expansão da economia, “que começou em janeiro de 2002 e terminou em dezembro de 2007, a renda familiar mediana americana ficou US$ 2 mil menor – a primeira vez em que a maioria dos americanos esteve pior no fim de um ciclo do que no início”.
No último ciclo de expansão da economia, “que começou em janeiro de 2002 e terminou em dezembro de 2007, a renda familiar mediana americana ficou US$ 2 mil menor – a primeira vez em que a maioria dos americanos esteve pior no fim de um ciclo do que no início”.
Sem mobilidade
Observa-se, com isto, “um declínio na mobilidade da renda”, ou seja,
“hoje, nos EUA, é menor a chance de passar de um estrato de renda mais
baixa para outro mais elevado do que em qualquer outra economia
desenvolvida.” O jornalista inglês enxerga no avanço da desigualdade “a
crise em fogo lento do capitalismo americano”.
Não surpreende que uma maioria crescente de estadunidenses tem dito, em pesquisas de opinião, acreditar que seus filhos terão um padrão de vida pior do que o deles próprios. O famoso american of way of life (modo de vida americana) já era.
Não surpreende que uma maioria crescente de estadunidenses tem dito, em pesquisas de opinião, acreditar que seus filhos terão um padrão de vida pior do que o deles próprios. O famoso american of way of life (modo de vida americana) já era.
Arrocho e despejo
As coisas pioraram com a recessão iniciada no final de 2007, que
destruiu cerca de 9 milhões de empregos, degradou um pouco mais as
condições de trabalho e rebaixou salários. Além disto, um grande número
de famílias operárias, endividada e sem renda, entrou na fila dos
despejos e amargou também a perda das residências.
As políticas públicas em geral contribuíram para aprofundar o fosso social, reforçando a acumulação de riqueza pelas famílias mais ricas e o empobrecimento da massa trabalhadora. O governo Obama não alterou a lógica do sistema.
As políticas públicas em geral contribuíram para aprofundar o fosso social, reforçando a acumulação de riqueza pelas famílias mais ricas e o empobrecimento da massa trabalhadora. O governo Obama não alterou a lógica do sistema.
Economia e política
O processo de achatamento relativo (e mesmo absoluto) dos salários foi
paralelo ao avanço do parasitismo econômico dos EUA, traduzido na
crescente dependência de capitais estrangeiros para financiar o consumo
excessivo de importados e um déficit público explosivo, que é a
contrapartida das custosas aventuras militares e de um orçamento bélico
que corresponde à metade da despesa mundial com armas e segurança.
Muitos economistas apontam a redução do poder de compra do povo trabalhador como uma das causas da mais recente recessão no país, já que estimulou a superprodução relativa de mercadorias. O baixo consumo das famílias mais pobres reduz as dimensões do mercado interno para a indústria e cria dificuldades adicionais para o comércio e a valorização.
Muitos economistas apontam a redução do poder de compra do povo trabalhador como uma das causas da mais recente recessão no país, já que estimulou a superprodução relativa de mercadorias. O baixo consumo das famílias mais pobres reduz as dimensões do mercado interno para a indústria e cria dificuldades adicionais para o comércio e a valorização.
“Durante anos, o problema foi amenizado e parcialmente oculto pela
disponibilidade de crédito barato. Americanos de classe média foram
ativamente incentivados a se endividar continuamente, oferecendo suas
casas em garantia, ou a canibalizar seus fundos de aposentadoria,
confiando em que os preços dos imóveis e as bolsas de valores
desafiariam permanentemente a gravidade (uma atitude estimulada, entre
outros, pela metade ganhadores do Nobel de Economia em todo o mundo).
Essa reserva de valor, agora, não existe mais”, sublinou.
O resultado disto foi o acúmulo de dívidas impagáveis, concentradas principalmente no ramo imobiliário, que estouraram com a chamada “crise do subprime”. O fenômeno encontra sua explicação em vários fatores econômicos e políticos, objetivos e subjetivos, entre eles a ascensão da China e outros países considerados emergentes, que teria solapado “os salários no Ocidente” e eliminado “postos de trabalho sem qualificação, semiqualificados e até mesmo qualificados. A indústria agora representa somente 12% dos postos de trabalho nos EUA.”
O resultado disto foi o acúmulo de dívidas impagáveis, concentradas principalmente no ramo imobiliário, que estouraram com a chamada “crise do subprime”. O fenômeno encontra sua explicação em vários fatores econômicos e políticos, objetivos e subjetivos, entre eles a ascensão da China e outros países considerados emergentes, que teria solapado “os salários no Ocidente” e eliminado “postos de trabalho sem qualificação, semiqualificados e até mesmo qualificados. A indústria agora representa somente 12% dos postos de trabalho nos EUA.”
Também pesou a filosofia neoliberal que guiou a política econômica dos
Estados Unidos pelo menos desde a reação conservadora do ex-ator Ronaldo
Reagan, “que acelerou o declínio dos sindicatos e reverteu os traços
mais progressistas do sistema fiscal americano” ao reduzir a carga
tributária das camadas mais ricas. No seio da classe trabalhadora os
maiores prejudicados são os imigrantes.
Leia no sitio vermelho, de onde retiramos o artigo, a íntegra da reportagem publicada pelo jornal Valor:
Confusão de sinais
| Wladimir Pomar - Correio da Cidadania | |
|
A campanha eleitoral está fazendo com que a direita retome suas versões
sobre o governo Lula, talvez um dos principais cabos eleitorais da
candidatura Dilma. Da mesma forma que alguns setores da esquerda, a
direita considera que o governo Lula simplesmente deu continuidade às
políticas neoliberais do governo FHC, e que seus sucessos se deveram a
tal continuidade.
É evidente que há confusão de conceitos e sinais. A direita quer
creditar os avanços do governo Lula às políticas neoliberais. Os setores
da esquerda, em oposição ao governo Lula, não acreditam que tenha
havido qualquer mudança e debitam essa falta de avanços justamente ao
suposto continuísmo neoliberal do governo.
A direita também fala de poucas mudanças. Mas elas estariam relacionadas
à falta de continuidade das privatizações, à descontinuidade na
transformação do Estado num Estado-Mínimo, e na não implementação de
outros planos em curso no governo FHC. Os setores oposicionistas de
esquerda, ao contrário, atacam Lula por ter persistido nas
privatizações, por haver entregue o Estado à pilhagem de setores
políticos corruptos, e por não haver realizado as mudanças estruturais
que a sociedade demanda.
Embora seja possível detectar essas diferenças de conteúdo entre o
discurso da direita e dos setores de esquerda, que estão em oposição ao
governo Lula, a grande massa da população brasileira não consegue
distinguir as nuances. A imagem que percebe é de uma unidade entre ambos
os discursos. Ainda mais que, tanto a direita quanto a oposição de
esquerda também expressam a opinião de que a popularidade do presidente
estaria mais relacionada à sua capacidade demagógica e de cooptação dos
movimentos sociais do que a qualquer percepção popular sobre as mudanças
reais de sua situação.
Esse quadro fica ainda mais confuso quando, por exemplo, tanto o
candidato Serra, quanto a candidata Marina, continuam elogiando os
supostos aspectos positivos do governo FHC, de triste memória, e
prometem dar continuidade a todos os programas do governo Lula. A
diferença consistiria em fazer "muito mais", com um governo de coalizão
que incluirá o DEM. O que leva boa parte do eleitorado a supor que os
setores da esquerda oposicionista estão apenas trabalhando pelo retorno
do desastre neoliberal ao governo.
Essa suposição poderá se tornar ainda mais forte se a candidatura Dilma
decidir fazer um acerto de contas com o passado nefasto das políticas do
governo FHC, nas quais Serra teve papel saliente e com as quais Marina
teve um namoro de muito tempo. Dilma pode mostrar os efeitos das
privatizações, que reduziram drasticamente os investimentos em
infra-estrutura e em novas indústrias, deixando que a malha rodoviária e
de portos se deteriorasse, que a produção de energia ficasse estagnada e
levasse ao apagão, e que grande parte do parque industrial brasileiro
entrasse em falência.
Dilma também pode mostrar o grau de destruição que as políticas
tucanopefelistas causaram aos sistemas de planejamento e de elaboração
de projetos do país, ao comércio exterior e às reservas internacionais
do país. Pode ainda mostrar, na ponta do lápis, como a justificativa da
venda das estatais para abater a dívida pública não passou de mentira
deslavada, e como a economia brasileira estava em estado de falência
quando Lula assumiu o governo em 2002.
Pode argumentar que foi essa situação caótica, herdada do governo FHC, e
as ameaças provenientes do sistema financeiro internacional, que
obrigaram o novo governo a adotar uma tática cuidadosa de enfrentamento.
Isto é, não aplicar o cavalo-de-pau que as burguesias estrangeiras e
parte da burguesia brasileira supunham que o novo governo iria aplicar.
Embora fosse possível ser mais ousado, naquele momento o governo Lula
preferiu não mexer em alguns pontos considerados pétreos pelo sistema
financeiro internacional, como a taxa de juros e o superávit primário.
Além disso, pode afirmar que a manutenção da disciplina fiscal e
monetária, observada pelo governo Lula desde então, pouco tem a ver com o
neoliberalismo. Enquanto existir Estado, capitalista ou socialista, a
disciplina fiscal e financeira terá que ser mantida para evitar fortes
desequilíbrios na situação econômica e social. O neoliberalismo se
apropriou hipócrita e teoricamente desse procedimento, para garantir que
os países devedores honrassem suas dívidas. Enquanto isso, seu
principal mentor, os Estados Unidos, continuaram transgredindo-a sem
pudor. Mas isso não significa que a disciplina fiscal e monetária deva
ser jogada no lixo como algo imprestável.
Por outro lado, pode mostrar que, num movimento de pinças que tinha como
forças principais o programa fome zero e a reorganização da capacidade
de planejamento e elaboração de projetos do Estado, o governo Lula foi
criando paulatinamente as condições para dar partida a um processo firme
e consistente de redistribuição de renda e crescimento econômico. Teve
muita gente, tanto à direita, quanto à esquerda, que não se deu conta
desse movimento relativamente silencioso, e acreditou que a manutenção
da macroeconomia neoliberal seria para sempre.
Apesar disso, a esquerda oposicionista continua acusando o governo Lula
de apenas ter promovido um modelo neo-desenvolvimentista que combina a
junção do capital financeiro com o capital produtivo, e pratica
políticas sociais de mitigação da pobreza. Portanto, não vê diferenças
programáticas substancias entre as candidaturas Serra e Dilma.
Não leva em conta as diferenças entre o segundo mandato e o primeiro.
Nem que, sem as manobras táticas do primeiro, talvez fosse difícil
realizar as mudanças ocorridas no segundo, mudanças que tiveram enorme
repercussão na vida e nas mentes das grandes massas populares do povo
brasileiro.
Mas a esquerda oposicionista sabe que a volta da direita ao governo será
um novo desastre para o povo brasileiro. Mesmo assim, e certamente sem
querer, seu oposicionismo acaba ajudando a direita, que esconde seu
histórico de políticas de espoliação do povo brasileiro e,
hipocritamente, promete dar continuidade aos programas e projetos do
governo Lula. Porém, talvez por isso, a candidatura Dilma se veja
acicatada a ser mais ofensiva na explicitação de suas diferenças com
Serra e Marina.
Wladimir Pomar é analista político e escritor.
|
Apeoesp: São Paulo contrata aluno para ensinar aluno
Mais desperdício de dinheiro público na educação paulista
Maria Izabel Azevedo Noronha - Presidenta da APEOESP
Nós, da APEOESP, temos denunciado que o Governo do Estado de São
Paulo vem desperdiçando dinheiro público na área da educação através de
medidas que, em ano eleitoral, promovem a distribuição de recursos que
seriam melhor aplicados na formação continuada e na valorização dos
profissionais da educação.
Neste ano, a Secretaria Estadual da Educação instituiu a chamada
promoção por mérito, que premia com aumento correspondente a 25% do
salário-base apenas uma parcela dos professores, deixando 80% da
categoria sem nenhum reajuste salarial. A Secretaria também está
distribuindo dinheiro a uma parte dos candidatos aprovados nas primeiras
fases do concurso de Professor de Educação Básica II, também
correspondente a 25% do salário-base, destinado à compra de notebooks
para participação no curso à distância oferecido pela recém criada
Escola de Formação como terceira etapa do concurso público.
Ocorre que não há meios de controlar a compra dos equipamentos e nem
há garantia de que esses candidatos serão aprovados ou ingressarão na
rede estadual de ensino. Por outro lado, os recursos a serem empregados
nessa desnecessária terceira etapa do concurso poderiam ser revertidos
em formação continuada no próprio local de trabalho para os professores,
em convênio com as universidades públicas.
Agora, a Secretaria Estadual da Educação volta a anunciar a
distribuição de dinheiro, desta vez aos alunos do ensino médio para que
ensinem matemática a seus colegas do ensino fundamental que tenham
dificuldades de aprendizagem nesta disciplina. Como se vê, uma completa
inversão de prioridades.
Governo erra ao não promover a formação e atualização profissionais
dos professores que já se encontram na rede estadual de ensino,
sobretudo nas disciplinas de Matemática, Física e Química. Continua
errando ao não instituir salários dignos e um plano de carreira atraente
para profissionais dessas áreas, o que resulta na falta de professores
nas escolas estaduais. Em vez de reconhecer seus erros e corrigi-los, o
governo insiste em aprofundá-los, apelando para este verdadeiro remendo
que é a contratação de alunos para ensinar outros alunos.
Não apenas os professores e demais profissionais do magistério, mas
também os alunos e suas famílias merecem mais respeito e consideração.
Há hoje no país um sentimento de urgência para com as questões
educacionais. Leis, programas e medidas têm sido aprovados na esfera
federal no sentido de se buscar ampliar o financiamento da educação e o
acesso e permanência da população em todos os níveis e modalidades da
educação básica.
Exemplo recente, e muito importante, foi a promulgação da Emenda
Constitucional nº 59/2009, que extingue progressivamente a Desvinculação
das Receitas da União (DRU), destinando mais R$ 9 bilhões para a
educação já em 2010. Além disso, torna obrigatório o ensino dos 4 aos 17
anos e determina que o novo Plano Nacional de Educação crie o Sistema
Nacional de Educação, regulamentando o regime de colaboração entre os
entes federados previsto na Constituição Federal. A lei federal
11.738/2008 instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional. O Conselho
Nacional de Educação formulou diretrizes nacionais para as carreiras do
magistério e dos funcionários das escolas. Também foi criado em âmbito
federal o Programa Nacional de Formação de Professores. Há muitas outras
medidas no mesmo sentido.
Porém, grande parte dessas medidas tem enfrentado a oposição ou
resistência do Governo do Estado de São Paulo, que não vem participando
deste esforço nacional para melhorar a educação pública. Prefere
formular outro tipo de “solução” de eficácia duvidosa. A impressão que
temos é que a educação pública no Estado de São Paulo está sendo
conduzida às cegas por uma gestão que tem dificuldades para estabelecer
um diálogo eficiente sobre as políticas educacionais. Quem perde são os
alunos e toda a sociedade paulista.
terça-feira, 3 de agosto de 2010
A Caça - Carlos Saura(1966)
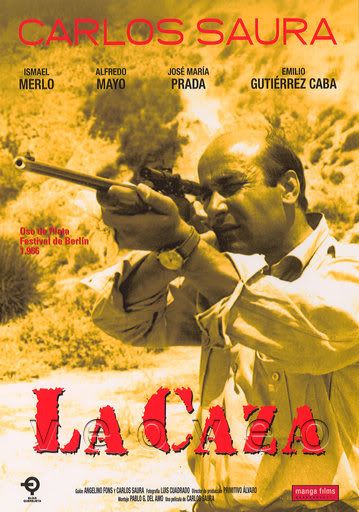
| |||||||||||||||
Elenco
|
Informações sobre o filme
|
Informações sobre o release
| ||
| Ismael Merlo (José) Alfredo Mayo (Paco) José Maria Prada (Luís) Emílio Gutierrez Caba (Enrique como Emílio G. Caba) Fernando Sanchez Polack (Juan) Violeta García (Carmen) María Sanchez Aroca (Mãe de Juan) | Gênero: Drama / Thriller Diretor: Carlos Saura Duração: 83 minutos Ano de Lançamento: 1966 País de Origem: Espanha Idioma do Áudio: Espanhol IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0060223/ | Qualidade de Vídeo: DVD Rip Vídeo Codec: XviD Vídeo Bitrate: 1.417 Kbps Áudio Codec: MPEG1/2 L3 Áudio Bitrate: 69 kbps 48 KHz Resolução: 640 x 384 Aspect Ratio: 1.667 Formato de Tela: Widescreen (16x9) Frame Rate: 25.000 FPS Tamanho: 895.1 MiB Legendas: Em anexo |
Premiações
| ||
| Este filme foi vencedor de 5 prêmios e teve uma indicação. Maiores detalhes: http://www.imdb.com/...t0060223/awards | ||
Crítica
| ||
| É
muito difícil encontrar uma boa crítica sobre o filme em português. Até
mesmo o título, foi sugerido por mim, traduzido ao pé da letra. Aos interessados, sugiro os comentários em inglês do site http://www.imdb.com/title/tt0060223/ O filme é muito bom (nota 7,9 imdb) e, foi o primeiro grande sucesso internacional de Carlos Saura. | ||
Legendas Exclusivas
| ||
Coopere, deixe semeando ao menos duas vezes o tamanho do arquivo que baixar.
|
CREDITOS: MAKINGOFF - PAULA
QUEM NÃO FOR SÓCIO DO MK SOLICITE O TORRENT E A LEGENDA PELO MEU EMAIL....
 La.Caza.1966.DVDRip.XViD.torrent (18.83K)
La.Caza.1966.DVDRip.XViD.torrent (18.83K)
Número de downloads: 84
 La.Caza.1966.PtBr.DVDRip.XViD.rar (22.08K)
La.Caza.1966.PtBr.DVDRip.XViD.rar (22.08K)
Pobreza e persistência do campesinato: a visão de Marx sobre a agricultura

Marx parece não ter percebido que as
interrupções do trabalho levantam um problema muito sério para o
trabalhador agrícola: se não trabalha todos os dias, de onde obterá
recursos para seguir se reproduzindo e estar disponível para quando o
capital quiser utilizá-lo de novo? E isso levanta, por sua vez, sérias
dúvidas sobre a teoria do valor, visto que Marx não parece ter resolvido
qual é o valor da força de trabalho agrícola: o custo de sua produção
anual ou só o que obtém nos dias em que trabalha efetivamente na
agricultura? O artigo é de Julio Boltvinik, do La Jornada.
Julio Boltvinik - La Jornada via Carta Maior
Mann e Dickinson (MeD), em seu artigo de 1978 e Mann em seu livro de 1990, assim como Ariel José Contreras (1),
centram sua identificação de obstáculos ao desenvolvimento do
capitalismo na agricultura (o que para eles explicaria a persistência
das formas de produção agrícolas não capitalistas), nos seguintes
fatores: a diferença entre tempo de trabalho e tempo de produção
(distinção conceitual realizada por Marx no Volume II de O Capital);
e outras características naturais, como o caráter perecível dos
produtos, que afeta a comercialização, assim como os riscos naturais que
costumam afetar os resultados produtivos.
Mann e Dickinson citam um parágrafo-chave do volume II de O Capital, no qual Marx diz que o tempo de trabalho é sempre tempo de produção (definido este último como o tempo em que o capital fica enredado no processo de produção), mas ao contrário, nem todo tempo de produção é necessariamente tempo de trabalho. Marx explica esta diferença assinalando que o tempo de produção consiste em duas partes: um período no qual o trabalho se aplica à produção e um segundo período, em que a mercadoria inacabada se abandona ao influxo dos processos naturais.
Embora Marx apresente vários exemplos não agrícolas desta segunda etapa (a secagem da cerâmica, o branqueamento das telas, a fermentação), destaca que esta fase é muito importante na agricultura e dá o exemplo dos cereais, no qual por um longo período o tempo de trabalho fica suspenso, enquanto as sementes amadurecem na terra. Mann e Dickinson sustentam que a não identidade entre os tempos de produção e de trabalho estabelece uma série de obstáculos à penetração capitalista em certas esferas da agricultura (p. 473). Acrescentam que isto se torna claro quando se observa os efeitos na taxa de lucro e nos problemas de circulação. Eles analisam estes dois temas nas duas partes seguintes.
Nelas, contudo, predomina uma análise parcial e estática. Por exemplo, afirma que, quanto mais rotações o capital efetua num ano, mais alta será - rebus sic stantibus [as coisas se mantendo as mesmas] - a taxa de lucro, o que é óbvio e indubitável, mas daí não se segue a conclusão de que por isso o capital abster-se-á de intervir em tais áreas de produção (p. 474). Esta conclusão é similiar à de Contreras: “Além da maior duração do tempo de circulação do capital agrícola em relação ao tempo de rotação do capital industrial, outros fatores a mais contribuem para conter o desenvolvimento da produção capitalista (p. 890).”
Em minha opinião, essas conclusões se baseiam numa análise parcial, que não considera que a taxa de lucro efetivamente obtida por um capital, em qualquer setor depende do preço de produção, e não do valor, como mostra Marx no volume II de O Capital, ao analisar a tendência à equiparação das taxas de lucro entre diferentes ramos da produção. Assim como os preços de produção se alheiam dos valores para compensar as diferenças na composição orgânica do capital e para poder igualar a taxa de lucro, também o farão para compensar a longa duração do tempo de produção e, portanto, a lenta rotação de capital. Assim não fosse a indústria da construção, por exemplo, que tem com frequência períodos de produção mais largos que a agricultura de ciclo anual, não poderia ser capitalista. A parte mais interessante do artigo de Mann e Dickinson é a última sessão. Alí eles observam que:
“A contratação sazonal da força de trabalho, que é um reflexo da identidade do tempo de produção e de trabalho, gera a qualquer capitalista problemas de recrutamento e de administração. Como comprador de força de trabalho, o capitalista tem de, ou bem atrair e manter a força de trabalho oferecendo altos salários, ou bem depender dos elementos mais desesperados e marginais na sociedade, como a força de trabalho rural e migratória (p. 477).”
Na primeira frase, os autores estabelecem a ligação entre a estacionalidade do trabalho e as diferenças entre tempo de trabalho e tempo de produção. É evidente que são duas faces da mesma moeda, duas maneiras de ver o mesmo fenômeno e que, portanto, o ponto de partida de sua explicação da persistência de formas não capitalistas de produção (granjas familiares, no caso) é o mesmo de minha explicação da persistência do campesinato. No entanto, eu o apresento da seguinte maneira:
“O capitalismo não pode existir na forma pura na agricultura: sem a oferta campesina de mão de obra sazonal barata, a agricultura capitalista seria impossível. Não haveria (quase) ninguém disposto a trabalhar apenas durante as colheitas. Portanto, a permanência da agricultura campesina torna possível o agrocapitalismo”. Quer dizer, a agricultura campesina não só é funcional, mas indispensável para a existência de empresas agrícolas capitalistas”. Mas o camponês só vai se ver obrigado a vender sazonalmente sua força de trabalho (e estará disposto a vendê-la barato) se for pobre; os agricultores familiares ricos nos EUA podem passar (e passam) os períodos de entressafra na agricultura bebendo cerveja. Quer dizer, o capitalismo agrícola só pode existir em simbiose com camponeses pobres, dispostos a (e premidos a) venderem sua força de trabalho alguns dias por ano. Uma teoria que explique a sobrevivência do camponês deve explicar também a sua pobreza”.
Meu ponto de partida é a sazonalidade, minha resposta à persistência do campesinato é sua simbiose com o capitalismo agrícola. Parece-me que a diferença fundamental é que Mann e Dickinson estão tratando de analisar por que os agricultores familiares sobrevivem (que como digo são pobres e passam os períodos sem trabalho bebendo cerveja), enquanto minha pergunta é sobre a persistência dos camponeses. O ponto de partido dos autores é o excesso de tempo de produção sobre o tempo de trabalho em algumas esferas da agricultura (a outra face da moeda da sazonalidade) e sua resposta é que ele representa para o capitalismo o uso ineficiente do capital, taxas de lucro mais baixas e problemas de circulação, o que faz com que estas esferas agrícolas não lhe sejam atrativas. Quer dizer, as granjas familiares sobrevivem porque não interessa ao capital devorar seu campo de negócios, contra o qual argumenta com força John Brewster, cujas idéias comentarei na sequência. O mérito de Mann e Dickinson (compartilhado com Contreras) consiste em ter destacado a percepção de Marx sobre as características específicas da agricultura e seu significado para o capitalismo.
Começo agora uma exploração do pensamento de Marx a respeito. Tomo como ponto de partida as referências de Mann e Dickinson e de Contreras aos volumes II e III de O Capital e aos Grundrisse (ambas obras de Marx). Contreras diz:
“Na indústria, a força de trabalho é empregada quase sempre durante o lapso que abarca o processo de produção, coincidindo assim tempo de trabalho e tempo de produção; na agricultura, por outro lado, o tempo de trabalho sempre inclui um lapso menor que o tempo de produção...Isso se deve a que a produção agrícola passa por uma fase de crescimento natural dos cultivos que não requerem nenhuma ou pouca aplicação adicional de trabalho. 'A não coincidência entre o tempo de produção e o tempo de trabalho – disse Marx [nos Grundrisse] – só pode se dever às condições naturais...” (2)
Mann e Dickinsion se referem a esta passagem, citam em primeiro lugar o parágrafo inicial do capítulo XIII do Segundo Livro de O Capital:
“O tempo de trablho é sempre tempo de produção, quer dizer, tempo no qual o capital está confinado na esfera da produção. Por outro lado, contudo, nem todo tempo em que o capital está no processo de produção é por isso necessariamente um tempo de trabalho.” Esta passagem continua assim: “Aqui não nos referimos às interrupções do processo de trabalho impostas pelos limites naturais da força mesma de trabalho..., referimo-nos a uma interrupção ...imposta pela natureza do produto e sua elaboração e durante a qual o objeto de trabalho se vê submetido a processos naturais mais ou menos largos...que obrigam a suspender total ou parcialmente o processo de trabalho. Assim, por exemplo, o vinho tem de passar por um período de fermentação e depois descansar por um tempo.... O trigo no inverno leva nove meses para maturar. Entre a época da semeadura e a da colheita, o processo laboral é quase totalmente interrompido...Em todos esses caso, ao longo de boa parte do tempo de produção, só se agrega trabalho suplementar esporadicamente... Por conseguinte, ...o tempo de produção do capital gasto se compõe de dois períodos: um em que o capital permanece no processo de trabalho e outro, em que sua modalidade de existência – o produto ainda não acabado – se confia à ação de processos naturais fora da órbita do processo de trabalho”.
Mann e Dickinsion voltam aos Grundrisse mas não vêem, provavelmente porque não querem ver, uma frase-chave no texto do qual estão tomando algumas frases, que é um breve capítulo (pp. 189-194 do Vol. II) que tem como título “Diferença entre tempo de produção e tempo de trabalho – Storch”. Marx começa eliminando a suposta igualdade entre tempo de trabalho e tempo de produção, exemplificando sua não coincidência com a agricultura, na qual o trabalho se interrompe durante a fase produtiva. Marx esclarece que se o problema fosse de maior duração de tempo de trabalho, não haveria um caso especial. O que faz com que haja um caso especial (e o problema) é a interrupção do trabalho antes que termine o tempo de produção, já que, então, dois produtos distintos(um agrícola e outro industrial, por exemplo) podem conter o mesmo tempo de trabalho incorporado mas no produto cujo tempo de produção é maior (o agrícola), a rotação do ciclo do capital será mais lenta. Marx acrescenta algo (note-se a primeira frase em itálico que mostra o que Mann e Dickinsion não querem ver e que derruba todo seu argumento).
“Supomos aqui que o capital fixo atua completamente só, sem trabalho humano, como por exemplo a semente entregue ao seio da terra...O tempo que aqui se emprega para que o produto alcance sua maturidade, as interrupções do trabalho, constituem aqui condições de produção. O tempo de não trabalho constitui uma condição para o tempo de trabalho, para que este último se converta realmente no tempo de produção. É evidente que o problema corresponde propriamente tão só à equiparação das taxas de lucro. Devemos contudo esclarecer as coisas. A rotação mais lenta – isto é o essencial – não deriva neste caso do tempo de circulação, mas das condições mesmas sob as quais o trabalho se torna produtivo; forma parte das condições tecnológicas do processo de produção...O valor, portanto também a mais valia, não é igual ao tempo que dura a fase de produção, mas ao tempo de trabalho – tanto o objetivado como o vivo – empregado durante essa fase produtiva: que a equiparação das taxas de lucro intervenha em outras determinações é claro. Mas aqui não nos ocupamos da distribuição da mais valia, mas de sua criação. (Grundrisse, pp.189-191)”.
Essa é uma passagem central. Por um lado permite ver o quão insustentável é o argumento de Mann e Dickinsion, de que o capitalismo não se apropriou da agricultura porque esta não é suficientemente rentável, pois esse argumento esquece que no capitalismo, a mobilidade do capital entre ramos de atividade leva à equiparação das taxas de lucro pela via dos preços de produção diferentes dos valores, restribuindo a mais valia. Parecem esquecer, também, que taxas de mais valia e taxas de lucro são coisas muito diversas.
Por outro lado, a segunda frase em itálico reitera que, para Marx, o valor é sempre igual ao tempo de trabalho objetivado na mercadoria, inclusive no caso problemático da agricultura. Marx não se apercebeu que as interrupções do trabalho levantam um problema muito mais severo para o trabalhador agrícola: se não trabalha todos os dias, de onde obterá recursos para seguir se reproduzindo e estar disponível para quando o capital quiser utilizá-lo de novo? E isso levanta, por sua vez, sérias dúvidas sobre a teoria do valor, visto que Marx não parece ter resolvido qual é o valor da força de trabalho agrícola: o custo de sua produção anual ou só o que obtém por poucos dias em que trabalha efetivamente na agricultura? No volume I de O Capital, onde se aborda o valor da força de trabalho, Marx não introduz o problema que se apresenta quando o trabalho não é contínuo. E nos volumes I e II, onde aborda o caso especial da agricultura, não volta a discutir a determinação do valor da força de trabalho.
(1) O artigo de Susan A. Mann e James M. Dickinson é o Obstacles to the Development of a Capitalist Agriculture, Journal of Peasant Studies, vol. 5, N°4, pp.466-481, 1978; o livro de Mann é: Agrarian Capitalism in Theory and Practice (The University of North Carolina Press, 1990). O artigo de Contreras é: Límites de la producción capitalista en la agricultura, Revista Mexicana de Sociología, vol. 39, Nº 3, pp. 885-889.
(2) José Ariel Contreras, Límites de la producción capitalista en la agricultura, Revista Mexicana de Sociología, vol.39, No. 3, 1977, pp. 887-888. A citação de Marx é da p. 191 do Vol. 2, de Elementos fundamentales para al crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, Siglo XXI Editores, 1972.
(*) Julio Boltvinik Kalinka é um ex-deputado pelo PRD - Partido da Revolução Democrática - e acadêmico mexicano, professor do Colégio do México. Autor de Índice de progresso social [sem tradução para o português] e Probreza e distribuição de renda no México [ também sem tradução]. Em 2002 recebeu o prêmio naciona de jornalismo e em 2005 ganhou o prêmio de melhor tese de doutorado: Ampliar a visão: Um enfoque da pobreza e o florescimento humano, dado pelo Insituto Nacional de Antropologia e História (INAH). Assina a coluna semanal Economia Moral, do La Jornada (jbolt@colmex.mx).
Tradução: Katarina Peixoto
Mann e Dickinson citam um parágrafo-chave do volume II de O Capital, no qual Marx diz que o tempo de trabalho é sempre tempo de produção (definido este último como o tempo em que o capital fica enredado no processo de produção), mas ao contrário, nem todo tempo de produção é necessariamente tempo de trabalho. Marx explica esta diferença assinalando que o tempo de produção consiste em duas partes: um período no qual o trabalho se aplica à produção e um segundo período, em que a mercadoria inacabada se abandona ao influxo dos processos naturais.
Embora Marx apresente vários exemplos não agrícolas desta segunda etapa (a secagem da cerâmica, o branqueamento das telas, a fermentação), destaca que esta fase é muito importante na agricultura e dá o exemplo dos cereais, no qual por um longo período o tempo de trabalho fica suspenso, enquanto as sementes amadurecem na terra. Mann e Dickinson sustentam que a não identidade entre os tempos de produção e de trabalho estabelece uma série de obstáculos à penetração capitalista em certas esferas da agricultura (p. 473). Acrescentam que isto se torna claro quando se observa os efeitos na taxa de lucro e nos problemas de circulação. Eles analisam estes dois temas nas duas partes seguintes.
Nelas, contudo, predomina uma análise parcial e estática. Por exemplo, afirma que, quanto mais rotações o capital efetua num ano, mais alta será - rebus sic stantibus [as coisas se mantendo as mesmas] - a taxa de lucro, o que é óbvio e indubitável, mas daí não se segue a conclusão de que por isso o capital abster-se-á de intervir em tais áreas de produção (p. 474). Esta conclusão é similiar à de Contreras: “Além da maior duração do tempo de circulação do capital agrícola em relação ao tempo de rotação do capital industrial, outros fatores a mais contribuem para conter o desenvolvimento da produção capitalista (p. 890).”
Em minha opinião, essas conclusões se baseiam numa análise parcial, que não considera que a taxa de lucro efetivamente obtida por um capital, em qualquer setor depende do preço de produção, e não do valor, como mostra Marx no volume II de O Capital, ao analisar a tendência à equiparação das taxas de lucro entre diferentes ramos da produção. Assim como os preços de produção se alheiam dos valores para compensar as diferenças na composição orgânica do capital e para poder igualar a taxa de lucro, também o farão para compensar a longa duração do tempo de produção e, portanto, a lenta rotação de capital. Assim não fosse a indústria da construção, por exemplo, que tem com frequência períodos de produção mais largos que a agricultura de ciclo anual, não poderia ser capitalista. A parte mais interessante do artigo de Mann e Dickinson é a última sessão. Alí eles observam que:
“A contratação sazonal da força de trabalho, que é um reflexo da identidade do tempo de produção e de trabalho, gera a qualquer capitalista problemas de recrutamento e de administração. Como comprador de força de trabalho, o capitalista tem de, ou bem atrair e manter a força de trabalho oferecendo altos salários, ou bem depender dos elementos mais desesperados e marginais na sociedade, como a força de trabalho rural e migratória (p. 477).”
Na primeira frase, os autores estabelecem a ligação entre a estacionalidade do trabalho e as diferenças entre tempo de trabalho e tempo de produção. É evidente que são duas faces da mesma moeda, duas maneiras de ver o mesmo fenômeno e que, portanto, o ponto de partida de sua explicação da persistência de formas não capitalistas de produção (granjas familiares, no caso) é o mesmo de minha explicação da persistência do campesinato. No entanto, eu o apresento da seguinte maneira:
“O capitalismo não pode existir na forma pura na agricultura: sem a oferta campesina de mão de obra sazonal barata, a agricultura capitalista seria impossível. Não haveria (quase) ninguém disposto a trabalhar apenas durante as colheitas. Portanto, a permanência da agricultura campesina torna possível o agrocapitalismo”. Quer dizer, a agricultura campesina não só é funcional, mas indispensável para a existência de empresas agrícolas capitalistas”. Mas o camponês só vai se ver obrigado a vender sazonalmente sua força de trabalho (e estará disposto a vendê-la barato) se for pobre; os agricultores familiares ricos nos EUA podem passar (e passam) os períodos de entressafra na agricultura bebendo cerveja. Quer dizer, o capitalismo agrícola só pode existir em simbiose com camponeses pobres, dispostos a (e premidos a) venderem sua força de trabalho alguns dias por ano. Uma teoria que explique a sobrevivência do camponês deve explicar também a sua pobreza”.
Meu ponto de partida é a sazonalidade, minha resposta à persistência do campesinato é sua simbiose com o capitalismo agrícola. Parece-me que a diferença fundamental é que Mann e Dickinson estão tratando de analisar por que os agricultores familiares sobrevivem (que como digo são pobres e passam os períodos sem trabalho bebendo cerveja), enquanto minha pergunta é sobre a persistência dos camponeses. O ponto de partido dos autores é o excesso de tempo de produção sobre o tempo de trabalho em algumas esferas da agricultura (a outra face da moeda da sazonalidade) e sua resposta é que ele representa para o capitalismo o uso ineficiente do capital, taxas de lucro mais baixas e problemas de circulação, o que faz com que estas esferas agrícolas não lhe sejam atrativas. Quer dizer, as granjas familiares sobrevivem porque não interessa ao capital devorar seu campo de negócios, contra o qual argumenta com força John Brewster, cujas idéias comentarei na sequência. O mérito de Mann e Dickinson (compartilhado com Contreras) consiste em ter destacado a percepção de Marx sobre as características específicas da agricultura e seu significado para o capitalismo.
Começo agora uma exploração do pensamento de Marx a respeito. Tomo como ponto de partida as referências de Mann e Dickinson e de Contreras aos volumes II e III de O Capital e aos Grundrisse (ambas obras de Marx). Contreras diz:
“Na indústria, a força de trabalho é empregada quase sempre durante o lapso que abarca o processo de produção, coincidindo assim tempo de trabalho e tempo de produção; na agricultura, por outro lado, o tempo de trabalho sempre inclui um lapso menor que o tempo de produção...Isso se deve a que a produção agrícola passa por uma fase de crescimento natural dos cultivos que não requerem nenhuma ou pouca aplicação adicional de trabalho. 'A não coincidência entre o tempo de produção e o tempo de trabalho – disse Marx [nos Grundrisse] – só pode se dever às condições naturais...” (2)
Mann e Dickinsion se referem a esta passagem, citam em primeiro lugar o parágrafo inicial do capítulo XIII do Segundo Livro de O Capital:
“O tempo de trablho é sempre tempo de produção, quer dizer, tempo no qual o capital está confinado na esfera da produção. Por outro lado, contudo, nem todo tempo em que o capital está no processo de produção é por isso necessariamente um tempo de trabalho.” Esta passagem continua assim: “Aqui não nos referimos às interrupções do processo de trabalho impostas pelos limites naturais da força mesma de trabalho..., referimo-nos a uma interrupção ...imposta pela natureza do produto e sua elaboração e durante a qual o objeto de trabalho se vê submetido a processos naturais mais ou menos largos...que obrigam a suspender total ou parcialmente o processo de trabalho. Assim, por exemplo, o vinho tem de passar por um período de fermentação e depois descansar por um tempo.... O trigo no inverno leva nove meses para maturar. Entre a época da semeadura e a da colheita, o processo laboral é quase totalmente interrompido...Em todos esses caso, ao longo de boa parte do tempo de produção, só se agrega trabalho suplementar esporadicamente... Por conseguinte, ...o tempo de produção do capital gasto se compõe de dois períodos: um em que o capital permanece no processo de trabalho e outro, em que sua modalidade de existência – o produto ainda não acabado – se confia à ação de processos naturais fora da órbita do processo de trabalho”.
Mann e Dickinsion voltam aos Grundrisse mas não vêem, provavelmente porque não querem ver, uma frase-chave no texto do qual estão tomando algumas frases, que é um breve capítulo (pp. 189-194 do Vol. II) que tem como título “Diferença entre tempo de produção e tempo de trabalho – Storch”. Marx começa eliminando a suposta igualdade entre tempo de trabalho e tempo de produção, exemplificando sua não coincidência com a agricultura, na qual o trabalho se interrompe durante a fase produtiva. Marx esclarece que se o problema fosse de maior duração de tempo de trabalho, não haveria um caso especial. O que faz com que haja um caso especial (e o problema) é a interrupção do trabalho antes que termine o tempo de produção, já que, então, dois produtos distintos(um agrícola e outro industrial, por exemplo) podem conter o mesmo tempo de trabalho incorporado mas no produto cujo tempo de produção é maior (o agrícola), a rotação do ciclo do capital será mais lenta. Marx acrescenta algo (note-se a primeira frase em itálico que mostra o que Mann e Dickinsion não querem ver e que derruba todo seu argumento).
“Supomos aqui que o capital fixo atua completamente só, sem trabalho humano, como por exemplo a semente entregue ao seio da terra...O tempo que aqui se emprega para que o produto alcance sua maturidade, as interrupções do trabalho, constituem aqui condições de produção. O tempo de não trabalho constitui uma condição para o tempo de trabalho, para que este último se converta realmente no tempo de produção. É evidente que o problema corresponde propriamente tão só à equiparação das taxas de lucro. Devemos contudo esclarecer as coisas. A rotação mais lenta – isto é o essencial – não deriva neste caso do tempo de circulação, mas das condições mesmas sob as quais o trabalho se torna produtivo; forma parte das condições tecnológicas do processo de produção...O valor, portanto também a mais valia, não é igual ao tempo que dura a fase de produção, mas ao tempo de trabalho – tanto o objetivado como o vivo – empregado durante essa fase produtiva: que a equiparação das taxas de lucro intervenha em outras determinações é claro. Mas aqui não nos ocupamos da distribuição da mais valia, mas de sua criação. (Grundrisse, pp.189-191)”.
Essa é uma passagem central. Por um lado permite ver o quão insustentável é o argumento de Mann e Dickinsion, de que o capitalismo não se apropriou da agricultura porque esta não é suficientemente rentável, pois esse argumento esquece que no capitalismo, a mobilidade do capital entre ramos de atividade leva à equiparação das taxas de lucro pela via dos preços de produção diferentes dos valores, restribuindo a mais valia. Parecem esquecer, também, que taxas de mais valia e taxas de lucro são coisas muito diversas.
Por outro lado, a segunda frase em itálico reitera que, para Marx, o valor é sempre igual ao tempo de trabalho objetivado na mercadoria, inclusive no caso problemático da agricultura. Marx não se apercebeu que as interrupções do trabalho levantam um problema muito mais severo para o trabalhador agrícola: se não trabalha todos os dias, de onde obterá recursos para seguir se reproduzindo e estar disponível para quando o capital quiser utilizá-lo de novo? E isso levanta, por sua vez, sérias dúvidas sobre a teoria do valor, visto que Marx não parece ter resolvido qual é o valor da força de trabalho agrícola: o custo de sua produção anual ou só o que obtém por poucos dias em que trabalha efetivamente na agricultura? No volume I de O Capital, onde se aborda o valor da força de trabalho, Marx não introduz o problema que se apresenta quando o trabalho não é contínuo. E nos volumes I e II, onde aborda o caso especial da agricultura, não volta a discutir a determinação do valor da força de trabalho.
(1) O artigo de Susan A. Mann e James M. Dickinson é o Obstacles to the Development of a Capitalist Agriculture, Journal of Peasant Studies, vol. 5, N°4, pp.466-481, 1978; o livro de Mann é: Agrarian Capitalism in Theory and Practice (The University of North Carolina Press, 1990). O artigo de Contreras é: Límites de la producción capitalista en la agricultura, Revista Mexicana de Sociología, vol. 39, Nº 3, pp. 885-889.
(2) José Ariel Contreras, Límites de la producción capitalista en la agricultura, Revista Mexicana de Sociología, vol.39, No. 3, 1977, pp. 887-888. A citação de Marx é da p. 191 do Vol. 2, de Elementos fundamentales para al crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, Siglo XXI Editores, 1972.
(*) Julio Boltvinik Kalinka é um ex-deputado pelo PRD - Partido da Revolução Democrática - e acadêmico mexicano, professor do Colégio do México. Autor de Índice de progresso social [sem tradução para o português] e Probreza e distribuição de renda no México [ também sem tradução]. Em 2002 recebeu o prêmio naciona de jornalismo e em 2005 ganhou o prêmio de melhor tese de doutorado: Ampliar a visão: Um enfoque da pobreza e o florescimento humano, dado pelo Insituto Nacional de Antropologia e História (INAH). Assina a coluna semanal Economia Moral, do La Jornada (jbolt@colmex.mx).
Tradução: Katarina Peixoto
Assinar:
Postagens (Atom)





